Há pelo menos um grupo relativamente ao qual podemos dizer que é quase obrigatório não votar Cavaco: os agentes culturais. O candidato de Boliqueime despreza tudo o que seja cultura e mesmo quando lhe dedica algumas migalhas do seu discurso é apenas para dizer que a economia vem primeiro. Mas Cavaco não tem razão, porque é a cultura que precede a economia e não o contrário. Na verdade, uma boa oferta cultural influencia de maneira decisiva as decisões de implantação de novas unidades económicas. Os executivos das grandes empresas desejam viver em cidades bonitas, com zonas residenciais agradáveis e amplas possibilidades de ocupação dos tempos livres. Dois casos exemplares: o Estado da Renânia-Vestefália, mais ou menos com a dimensão do nosso país, conta com 250 orquestras, 500 teatros, 10.000 grupos corais e ainda bilhetes familiares, transportes e museus a preços simbólicos; em Nova Iorque, a espectacular recuperação do New Amsterdam Theater revitalizou toda a Rua 42 e atraiu o comércio e o turismo de luxo.
2005-12-30
Bocage (iv)
«Não lamentes, oh Nise, o teu estado;
Puta tem sido muita gente boa;
Putíssimas fidalgas tem Lisboa,
Milhões de vezes putas têm reinado:
Dido foi puta, e puta dum soldado;
Cleópatra por puta alcança a c’roa;
Tu, Lucrécia, com toda a tua proa,
O teu cono não passa por honrado:
Essa da Rússia imperatriz famosa,
Que inda há pouco morreu (diz a Gazeta)
Entre mil porras expirou vaidosa:
Todas no mundo dão a sua greta:
Não fiques pois, oh Nise, duvidosa
Que isto de virgo e honra é tudo peta.»
Puta tem sido muita gente boa;
Putíssimas fidalgas tem Lisboa,
Milhões de vezes putas têm reinado:
Dido foi puta, e puta dum soldado;
Cleópatra por puta alcança a c’roa;
Tu, Lucrécia, com toda a tua proa,
O teu cono não passa por honrado:
Essa da Rússia imperatriz famosa,
Que inda há pouco morreu (diz a Gazeta)
Entre mil porras expirou vaidosa:
Todas no mundo dão a sua greta:
Não fiques pois, oh Nise, duvidosa
Que isto de virgo e honra é tudo peta.»
2005-12-28
Crash
«Vaughan morreu ontem ao chocar com o carro pela última vez. Durante o período da nossa amizade, ele ensaiara a sua própria morte em múltiplos choques, mas este foi o seu único acidente na verdadeira acepção do termo. Lançado numa rota de colisão com a limusina da actriz de cinema, o seu carro galgou as barreiras laterais do viaduto do aeroporto de Londres e foi despenhar-se sobre o tejadilho dum autocarro cheio de passageiros acabados de sair dum avião. Os corpos esmagados dos turistas, como uma hemorragia do Sol, ainda jaziam sobre os assentos de vinil quando, passada uma hora, eu abri caminho por entre os técnicos da polícia. Agarrada ao braço do seu 'chauffeur', Elizabeth Taylor, a actriz de cinema com quem durante tantos meses Vaughan sonhara morrer, estava parada sob as luzes giratórias das ambulâncias. No momento em que me ajoelhei sobre o corpo de Vaughan, ela levou uma mão enluvada à garganta. Teria ela visto, na postura do cadáver, a imagem da morte que Vaughan lhe destinara?»
(in J. G. Ballard: Crash, tradução de Paulo Faria, Relógio D'Água Editores, Lisboa, 1996, p. 27)
(in J. G. Ballard: Crash, tradução de Paulo Faria, Relógio D'Água Editores, Lisboa, 1996, p. 27)
2005-12-23
Plan 9 from Outer Space

«Daqui fala Eros, um soldado espacial de outro planeta desta galáxia. Conheço as nossas dificuldades de comunicação mas sei que vocês conceberam um dicta-robot ou, como lhe chamam na Terra, um computador de linguagem. Agora podem compreender o que eu digo. Desde o início do vosso tempo que somos muito mais avançados. Levaram séculos para compreender aquilo que já concebemos há eternidades. Ainda acham impossível a nossa existência? Não é possível que julguem ser o único planeta habitado! Como pode uma espécie ser tão estúpida?! Permitam-me que vos sossegue. Não queremos conquistar o vosso planeta, queremos apenas salvá-lo. Poderíamos tê-lo destruído há muito tempo, se fosse esse o nosso objectivo. As nossas intenções são amigáveis. Admito que tivemos de usar certos meios que podem ser considerados criminosos, mas isso foi por causa dos vossos canhões, que destruiram alguns dos nossos representantes. Se continuarem a impossibilitar as nossas aterragens, teremos de concluir que não pretendem ser amigáveis. Nesse caso, não teremos alternativa senão destruir-vos antes que nos destruam. Com as vossas mentes infantis e antiquadas, produziram explosivos demasiado rápidos para que compreendam o seu alcance. Estão à beira de destruir todo o Universo...»
2005-12-22
Elton John
Acho que o casamento de Elton John e David Furnish é absolutamente vergonhoso: um com 58 anos e o outro 43, o que perfaz uma diferença de idades entre ambos de 15 anos!
2005-12-21
Bocage (iii)
A excelente série Bocage, de Fernando Vendrell, dá a conhecer aos espectadores da RTP todas as facetas do grande poeta setubalense: a sua escrita fulgurante, os conflitos permanentes com a sociedade do seu tempo e, claro está, a sua atribulada vida amorosa. Hoje, o fascínio de Bocage pelas mulheres é tão célebre quanto a extraordinária fluência e musicalidade dos seus versos, ainda que todos os seus breves idílios tivessem terminado sempre em desilusão ou em luto: nuns casos, porque a tuberculose, verdadeiro flagelo social da altura, encurtou a vida de muitas dessas jovens; noutros, porque o espírito exaltado e excêntrico do poeta não se prestava a relações duradouras. Mesmo assim, os seus poemas de amor guardaram para a posteridade os nomes de Marília, Tirsália, Elvira, Fílis, Anárdia, Jónia e tantas outras.
A mulher que mais marcou Bocage foi a doce Gertrúria. Foi ela o seu primeiro grande amor e a sua companhia em passeios intermináveis pelas margens do Tejo. Foi também ela que motivou a sua viagem para o Oriente: Bocage pretendia, qual cavaleiro andante, viver as aventuras mais extraordinárias em terras longínquas e assim tornar-se digno do seu afecto. Seguindo as pisadas de Camões, parte para a Índia e a carreira militar até lhe corre de feição. Porém, a tacanhez dos locais exaspera o vate, que acaba por desertar e cair em desgraça. Pior: a sua Gertrúria já há muito que não lhe responde às cartas. Regressado a Lisboa, Bocage descobre porquê: a jovem casara-se entretanto com Gil Francisco, irmão mais velho do poeta! O pai José Luís Soares recebe-o friamente e o corte de relações com a família é inevitável. É uma grande desilusão para o poeta (a primeira de muitas!), que mergulha de cabeça na vida boémia e dissoluta de Lisboa.
O pai de Bocage nunca lhe perdoou a deserção, a desonra e o seu envolvimento com D. Ana de Montdegui, a Manteigui. O poeta cruzou-se com ela em Surrate e tomou-se de amores por essa rameira elegante e cara, muito disputada. Quem logo a cobiçou foi o governador D. Francisco Guilherme de Sousa, que a instalou numa das melhores casas da cidade. Certos homens de meia-idade orgulham-se de ostentar assim uma amante vistosa e à Manteigui também não desagradava nada essa vida indolente e sensual. Porém, até uma mulher destas era susceptível de se apaixonar e, na verdade, sustentava com o seu dinheiro um amante negro. Só ele a satisfazia. Mas o dinheiro não compra tudo e o Hércules africano depressa se cansou dela. Ao saber-se traída, a Manteigui soltou gritos tão aflitivos que alarmaram toda a Surrate. Bocage dedicou-lhe então alguns versos satíricos, sem os quais essa Manteigui, apesar de todos os seus luxos e ricos adoradores, estaria hoje completamente esquecida.
Seguiu-se o amor de Maria Vicência, a relação mais intensa desde Gertrúria. Tudo seria perfeito, se não fosse a oposição da mãe da jovem: era impensável o casamento com um pelintra daqueles, que arrastava a sua existência pelas tabernas da Mouraria, de Alfama e do Bairro Alto. Com o falecimento da austera senhora, Bocage sonha com a concretização desse amor. Pura ilusão! Antes de morrer, a mãe fez Vicência prometer que jamais se casaria e a rapariga não pretende faltar à palavra dada.
A mulher mais fiel de todas foi a sua irmã Maria Francisca. Foi ela que o amparou nos últimos dias de vida e que pôs um ponto final na sua carreira de boémio. Finalmente, o vate descobria os confortos de um lar organizado: as refeições quentes, um quarto asseado e, melhor de tudo, as risadas cristalinas de uma sobrinha pequena. Se Francisca tivesse surgido meia dúzia de anos antes, talvez o destino do poeta tivesse sido diferente. Porém, os excessos da sua vida desregrada, a miséria sofrida nas prisões e o trabalho intenso dos últimos tempos contribuíram decisivamente para o aneurisma que lhe devorava o corpo. A doença foi implacável e fulminou-o com a morte. Mas Bocage não morreu só: antes que exalasse, fraco, o último suspiro de vida, foi visitado pela sua Maria Vicência.
A mulher que mais marcou Bocage foi a doce Gertrúria. Foi ela o seu primeiro grande amor e a sua companhia em passeios intermináveis pelas margens do Tejo. Foi também ela que motivou a sua viagem para o Oriente: Bocage pretendia, qual cavaleiro andante, viver as aventuras mais extraordinárias em terras longínquas e assim tornar-se digno do seu afecto. Seguindo as pisadas de Camões, parte para a Índia e a carreira militar até lhe corre de feição. Porém, a tacanhez dos locais exaspera o vate, que acaba por desertar e cair em desgraça. Pior: a sua Gertrúria já há muito que não lhe responde às cartas. Regressado a Lisboa, Bocage descobre porquê: a jovem casara-se entretanto com Gil Francisco, irmão mais velho do poeta! O pai José Luís Soares recebe-o friamente e o corte de relações com a família é inevitável. É uma grande desilusão para o poeta (a primeira de muitas!), que mergulha de cabeça na vida boémia e dissoluta de Lisboa.
O pai de Bocage nunca lhe perdoou a deserção, a desonra e o seu envolvimento com D. Ana de Montdegui, a Manteigui. O poeta cruzou-se com ela em Surrate e tomou-se de amores por essa rameira elegante e cara, muito disputada. Quem logo a cobiçou foi o governador D. Francisco Guilherme de Sousa, que a instalou numa das melhores casas da cidade. Certos homens de meia-idade orgulham-se de ostentar assim uma amante vistosa e à Manteigui também não desagradava nada essa vida indolente e sensual. Porém, até uma mulher destas era susceptível de se apaixonar e, na verdade, sustentava com o seu dinheiro um amante negro. Só ele a satisfazia. Mas o dinheiro não compra tudo e o Hércules africano depressa se cansou dela. Ao saber-se traída, a Manteigui soltou gritos tão aflitivos que alarmaram toda a Surrate. Bocage dedicou-lhe então alguns versos satíricos, sem os quais essa Manteigui, apesar de todos os seus luxos e ricos adoradores, estaria hoje completamente esquecida.
Seguiu-se o amor de Maria Vicência, a relação mais intensa desde Gertrúria. Tudo seria perfeito, se não fosse a oposição da mãe da jovem: era impensável o casamento com um pelintra daqueles, que arrastava a sua existência pelas tabernas da Mouraria, de Alfama e do Bairro Alto. Com o falecimento da austera senhora, Bocage sonha com a concretização desse amor. Pura ilusão! Antes de morrer, a mãe fez Vicência prometer que jamais se casaria e a rapariga não pretende faltar à palavra dada.
A mulher mais fiel de todas foi a sua irmã Maria Francisca. Foi ela que o amparou nos últimos dias de vida e que pôs um ponto final na sua carreira de boémio. Finalmente, o vate descobria os confortos de um lar organizado: as refeições quentes, um quarto asseado e, melhor de tudo, as risadas cristalinas de uma sobrinha pequena. Se Francisca tivesse surgido meia dúzia de anos antes, talvez o destino do poeta tivesse sido diferente. Porém, os excessos da sua vida desregrada, a miséria sofrida nas prisões e o trabalho intenso dos últimos tempos contribuíram decisivamente para o aneurisma que lhe devorava o corpo. A doença foi implacável e fulminou-o com a morte. Mas Bocage não morreu só: antes que exalasse, fraco, o último suspiro de vida, foi visitado pela sua Maria Vicência.
2005-12-16
Bocage (ii)
«Magro, de olhos azuis, carão moreno,
Bem servido de pés, meão na altura,
Triste de facha, o mesmo de figura,
Nariz alto no meio e não pequeno:
Incapaz de assistir num só terreno,
Mais propenso ao furor que à ternura,
Bebendo em níveas mãos por taça escura
de zelos infernais, letal veneno:
Devoto incensador de mil deidades
(digo moças mil) num só momento
Inimigo de hipócritas e frades:
Eis Bocage, em quem luz algum talento:
Saíram dele mesmo estas verdades
Num dia em que se achou cagando ao vento.»
Bem servido de pés, meão na altura,
Triste de facha, o mesmo de figura,
Nariz alto no meio e não pequeno:
Incapaz de assistir num só terreno,
Mais propenso ao furor que à ternura,
Bebendo em níveas mãos por taça escura
de zelos infernais, letal veneno:
Devoto incensador de mil deidades
(digo moças mil) num só momento
Inimigo de hipócritas e frades:
Eis Bocage, em quem luz algum talento:
Saíram dele mesmo estas verdades
Num dia em que se achou cagando ao vento.»
2005-12-12
Presidenciais 2006

O novo modelo civilizado de debates televisivos, em que os candidatos presidenciais não podem debater o que quer que seja. Evidentemente, Cavaco já disse que aprova.
2005-12-09
Alfred Hitchcock
O epitáfio que Alfred Hitchcock sugeriu para a sua própria sepultura: «Vejam o que vos acontecerá se não forem bons meninos».
2005-12-05
O Inquilino
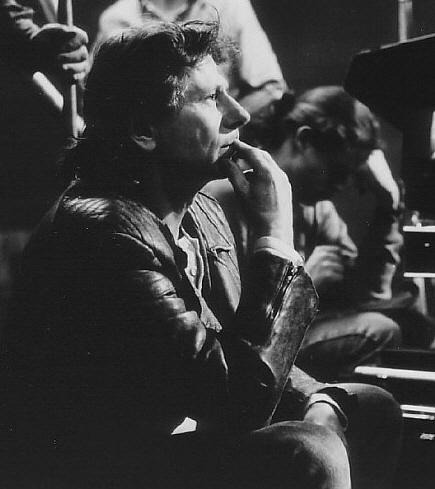
O filme O Inquilino (1976), de Roman Polanski, aborda o tema fascinante e inesgotável da duplicidade. Fala-se em duplos ou Doppelgänger a respeito de qualquer sósia ou duplicado espiritual de uma pessoa viva. Encontramo-los em todas as épocas e culturas, com as mais variadas formas e os mais diversos significados. Porém, há um traço que se tem mantido mais ou menos constante e que faz do duplo um tema polanskiano por excelência: a sua malignidade. As concepções moralistas do cristianismo atribuíram-lhe um carácter demoníaco: se antes, o duplo era visto como um anjo da guarda ou uma espécie de penhor da imortalidade da alma, ele agora surge como precisamente o oposto, um símbolo da finitude do indivíduo e arauto da morte. Ele representa o outro, o desconhecido, o sobrenatural. Posteriormente, a tradição romântica viria a humanizar o duplo e a atribuir-lhe uma origem interna, como a manifestação de uma parte do Eu.
A filosofia, as artes e a literatura sempre se interessaram pela duplicidade. Dostoiévski fez do duplo um tema preferencial e nele assentou o seu combate contra o Iluminismo russo do século XIX, com o seu racionalismo universalista e a convicção de que a razão poderia apreender toda a realidade e criar um mundo novo e melhor. Apesar das reacções desfavoráveis ao seu romance O Duplo (que Polanski tentou, sem sucesso, adaptar ao cinema), o escritor russo nunca deixou de reconhecer a importância e originalidade do tema. O grande Edgar Allan Poe demonstrou igualmente um interesse profundo pela duplicidade: um dos seus temas predilectos é o do homem perseguido pelo seu próprio imitador, a sua réplica, o seu outro. Também o nosso José Saramago abordou a temática em O Homem Duplicado.
A ciência médica fornece um contributo valioso para esta reflexão, porque a aparição do duplo está invariavelmente associada a situações de desintegração da personalidade e distúrbios de identidade. Se inicialmente apenas as crianças, os filósofos e os artistas se preocupavam constantemente com os problemas que a identidade lhes colocava, eles são hoje um objecto preferencial do estudo da psicanálise. São muitas as questões suscitadas: qual é a natureza do que chamamos identidade? Existe desde o começo da vida ou vai-se consolidando paulatinamente no decurso da evolução? Que papel desempenha o corpo no sentimento de identidade? Qual é o limite de mudança tolerável sem que a identidade se destrua de forma irreparável?
O filme O Inquilino, num dos seus momentos mais memoráveis, verbaliza o essencial destas preocupações: «Diz-me, em que preciso momento é que um indivíduo deixa de ser o que pensa que é? Cortas-me o braço. Digo ‘Eu e o meu braço’. Cortas-me o outro braço. Eu digo ‘Eu e os meus dois braços’. Tu tiras-me o estômago, os rins, presumindo que isso era possível e eu digo, ‘Eu e os meus intestinos’. E, agora, se me cortares a cabeça, eu diria ‘Eu e a minha cabeça’ ou ‘Eu e o meu corpo’? Que direito tem a cabeça de se apelidar eu mesmo?» Tal como os heróis de Dostoiévski lutam pela sua existência e delimitação do seu tempo e espaço, também o protagonista de Polanski vai iniciar um duelo cerrado pela manutenção do Eu.
A luta de O Inquilino é desigual, porque o nosso herói enfrenta sozinho um mundo de adversidades. A mudança para um prédio com vizinhos desconhecidos e hostis coloca o protagonista num ambiente que é desfavorável à consolidação da sua identidade. Mais: ele é, tal como o próprio Roman Polanski, um emigrante polaco em Paris. Poderíamos aplicar a ambos a célebre expressão «partir é morrer um pouco», pois a mudança para um novo país tem uma tal magnitude que não põe apenas em evidência a identidade, mas também a coloca em risco. A perda de referências é maciça: pessoas, coisas, lugares, língua, cultura, costumes, clima, às vezes a profissão e o meio social ou económico. Polanski falou muitas vezes desse seu sentimento de estranheza: «se deixar o carro mal estacionado, não é o facto de ele estar em cima do passeio que interessa, mas sim o facto de falar com sotaque estrangeiro».
O triunfo do duplo parece assegurado na sequência em que a nova Simone Choule se admira ao espelho. A transformação está, a partir desse momento, completa. A psicanálise fala mesmo de uma fase do espelho, pois um aspecto essencial do desenvolvimento da identidade da criança é constituído pelas suas reacções defronte da sua imagem reflectida: num primeiro momento, ela interpreta a sua imagem no espelho como um ser real que tenta agarrar; posteriormente, compreenderá que essa imagem não é a de um outro ser, mas a dela própria. Também o adolescente se questiona sobre a quem pertence o corpo que vê no espelho: se é o seu próprio, ou o do seu pai, jovem, com o qual agora se parece.
A mesma sequência do espelho parece dividir abruptamente o filme em duas partes distintas. Isto viria a merecer algumas críticas de Roman Polanski: «Olhando em retrospectiva, penso que a insanidade de Trelkovsky não evolui de forma suficientemente gradual e que as suas alucinações são demasiado surpreendentes e inusitadas. O filme assenta numa mudança de registo quando vai a meio. Até os cinéfilos mais sofisticados não apreciam a mistura de géneros. Uma tragédia deve permanecer uma tragédia; uma comédia que se transmuta em tragédia quase sempre falha». Porém, Polanski não tem razão no que diz e acaba por ser injustamente severo com o seu próprio filme. Se o duplo consegue dominar o protagonista, isso significa que a sua existência era, à partida, débil. Desde o início, o filme fornece sinais claros da perturbação da identidade do protagonista, pela forma como se submete à ideologia do grupo de vizinhos: o nosso herói humilha-se perante a porteira; aceita as condições escandalosas que lhe são impostas pelo senhorio; expulsa os amigos de casa a mando de um vizinho; e nem sequer pode receber a própria namorada. Tudo isto é inquietante e demonstra que a destruição do protagonista já há muito que estava em curso.
2005-11-25
O mendigo
Uma frase rica em sabedoria dita por um mendigo de Cacilhas: «um dia, todos temos de morrer e quando morrermos vamos todos juntos».
2005-11-17
Mundo Cartune
O blogue português mais hilariante de sempre: o Mundo Cartune, do Ricardo Cabrita. Será que a Paula Bobone pensa o mesmo?
2005-11-16
Cavaco (ii)
O silêncio persistente de Cavaco tem intrigado muita gente. Por mais que o candidato de Boliqueime seja espicaçado, da sua boca não sai nada – ou, quando sai, tudo se fica pelas ambiguidades, como sucedeu na entrevista a Constança Cunha e Sá. Nem sim, nem sopas. Claro que um silêncio pode dizer muito e até ser uma poderosa força de resistência, como vimos no Silence de la Mer, de Vercors, ou com os escritores da antiga RDA; porém, a mudez de Cavaco não tem nada de admirável. Bem pelo contrário, é um silêncio arrogante e estúpido. O candidato não fala, porque sabe que isso não só deixaria à vista de todos a sua falta de ideias, como faria dele uma figura mais humana e fragilizada: falar, seria descer ao nível da populaça eleitora. O prolongado silêncio, pelo contrário, responde à necessidade de auto-estranhamento das massas e converte-o numa espécie de ídolo ou homem providencial aos olhos dos portugueses.
2005-11-14
Jean Seberg

A rosa é a flor mais fascinante e misteriosa de todas. Notável pela sua beleza, pela sua forma e pelo seu perfume, ela é uma flor simbólica recorrente entre nós. A rosa corresponde no essencial ao que o lótus representa na Ásia, uma e outro estando muito próximos da simbologia da roda. Ela representa a perfeição completa, uma realização sem mácula. Simboliza o cálice da vida, a alma, o coração. Tornou-se uma imagem do amor e, mais ainda, do dom do amor, do amor puro.
As suas propriedades mágicas fizeram da rosa um símbolo alquímico importante. Branca ou encarnada, ela é uma das flores preferidas dos alquimistas, cujos tratados se intitulam frequentemente roseiras dos filósofos. Já uma rosa azul simbolizaria o impossível.
O encanto das rosas também seduziu os maiores poetas. Na sua Divina Comédia, Dante Alighieri evoca uma rosa celeste que reúne no Paraíso a coroa dos bem-aventurados que gozam da contemplação de Deus. Ronsard diz-nos em Ode à Cassandre que a beleza das rosas se confunde com a da própria mulher: «Mignonne allon voir si la rose / Qui ce matin avoit declose / Sa robe de pourpre au soleil...» Mas a Natureza é caprichosa que não lhe permite que viva por muito tempo: «Puis qu’une telle fleur ne dure / Que du matin jusques au soir.»
A rosa torna-se assim um símbolo da morte e da efemeridade humana.
2005-11-11
Casa Pia (iv)
A absolvição de Paulo Pedroso e Herman José pela Relação de Lisboa encerra mais um capítulo no processo da Casa Pia. Os desembargadores Rodrigues Simão, Carlos Sousa e Mário Morgado entenderam, por unanimidade, que não existem indícios suficientes da prática de crimes por estes arguidos, pelo que não se justifica que sejam levados a julgamento. E desta vez, o veredicto é definitivo. Apesar de alguma discordância no seio da nossa jurisprudência a respeito destes casos, a opinião dominante vai no sentido da impossibilidade de interposição de novo recurso: uma vez que o acórdão confirma uma decisão de um tribunal de primeira instância, inserindo-se assim no conceito jurídico designado por dupla conforme, já não é susceptível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.
Ainda é cedo para formular uma opinião segura a respeito do mérito desta decisão da Relação de Lisboa, porque os factos em discussão são muito complexos e o processo-crime principal está longe de acabar. Mesmo assim, podemos já adiantar duas ou três conclusões.
A absolvição de Herman José não terá surpreendido muita gente. Se no caso de Pedroso, o tribunal ainda falou de «uma dupla e insanável dúvida quanto à veracidade das imputações feitas ao arguido e quanto à pretendida inocência deste», já relativamente ao humorista não terão restado tantas dúvidas. Fica assim comprovada a sua inocência com toda a força inabalável que lhe confere o caso julgado e termina definitivamente um pesadelo de três anos. Para nós, seus amigos e admiradores, trata-se de uma decisão justa e do mais elementar bom senso. Aliás, Herman fez por merecê-la: quando todo o país espumava de raiva e se desdobrava em manifestações e marchas brancas, o arguido reagiu com a serenidade que é própria dos inocentes. Todos nos recordamos das palavras que proferiu à Imprensa, momentos após a sua notificação para a prestação de depoimento ao Ministério Público: «estarei lá com todo o gosto». Um belo exemplo de civismo!
O mesmo não se pode dizer dos magistrados do Ministério Público, que saem como os grandes derrotados desta decisão. Mas acabam vencidos apenas por culpa própria. Aquando da dedução da acusação a 29 de Dezembro de 2003, o Procurador-Geral da República Souto Moura, inchado como um pavão e ao arrepio de todo o bom senso, veio à Imprensa apregoar as virtudes do trabalho dos procuradores. Mais: afirmou que a sua magistratura faria «tudo», não para que fosse descoberta a verdade com imparcialidade, mas apenas para que a acusação fosse julgada procedente. A Relação de Lisboa vem agora dar a merecida resposta: entre outras críticas à condução da investigação, os desembargadores desvalorizaram o reconhecimento fotográfico de Pedroso, questionaram a sinceridade do depoimento de Carlos Silvino e falaram mesmo de testemunhos «inquinados» e «sugeridos» (não é muito difícil adivinhar por quem). Da próxima vez, esperemos que os procuradores sejam menos arrogantes e que o valente pontapé no rabo lhes tenha ensinado alguma coisa.
Ainda é cedo para formular uma opinião segura a respeito do mérito desta decisão da Relação de Lisboa, porque os factos em discussão são muito complexos e o processo-crime principal está longe de acabar. Mesmo assim, podemos já adiantar duas ou três conclusões.
A absolvição de Herman José não terá surpreendido muita gente. Se no caso de Pedroso, o tribunal ainda falou de «uma dupla e insanável dúvida quanto à veracidade das imputações feitas ao arguido e quanto à pretendida inocência deste», já relativamente ao humorista não terão restado tantas dúvidas. Fica assim comprovada a sua inocência com toda a força inabalável que lhe confere o caso julgado e termina definitivamente um pesadelo de três anos. Para nós, seus amigos e admiradores, trata-se de uma decisão justa e do mais elementar bom senso. Aliás, Herman fez por merecê-la: quando todo o país espumava de raiva e se desdobrava em manifestações e marchas brancas, o arguido reagiu com a serenidade que é própria dos inocentes. Todos nos recordamos das palavras que proferiu à Imprensa, momentos após a sua notificação para a prestação de depoimento ao Ministério Público: «estarei lá com todo o gosto». Um belo exemplo de civismo!
O mesmo não se pode dizer dos magistrados do Ministério Público, que saem como os grandes derrotados desta decisão. Mas acabam vencidos apenas por culpa própria. Aquando da dedução da acusação a 29 de Dezembro de 2003, o Procurador-Geral da República Souto Moura, inchado como um pavão e ao arrepio de todo o bom senso, veio à Imprensa apregoar as virtudes do trabalho dos procuradores. Mais: afirmou que a sua magistratura faria «tudo», não para que fosse descoberta a verdade com imparcialidade, mas apenas para que a acusação fosse julgada procedente. A Relação de Lisboa vem agora dar a merecida resposta: entre outras críticas à condução da investigação, os desembargadores desvalorizaram o reconhecimento fotográfico de Pedroso, questionaram a sinceridade do depoimento de Carlos Silvino e falaram mesmo de testemunhos «inquinados» e «sugeridos» (não é muito difícil adivinhar por quem). Da próxima vez, esperemos que os procuradores sejam menos arrogantes e que o valente pontapé no rabo lhes tenha ensinado alguma coisa.
2005-11-09
2005-11-08
Michael Palin
Nem tudo na televisão portuguesa é mau: todas as semanas, também temos as magníficas viagens do ex-Monty Python Michael Palin. Às terças pelas 22h30, na RTP-2.
2005-11-03
Mário Soares (ii)
Os chineses costumam dizer que «quanto mais velho, mais sábio» e têm toda a razão. Já os portugueses (alguns deles) parece que consideram a idade uma coisa suja para ser escondida debaixo do tapete e acham que Mário Soares não deve regressar à Presidência da República porque... é velho! Pois bem, a última entrevista do Altkanzler Soares à TVI foi uma bela bofetada de luva branca nessa gente e revelou um candidato em topo de forma. Quanta lucidez do alto daqueles 80 anos! Quem não viu a entrevista, pode consultar estes endereços: o sítio oficial da candidatura, o blogue e a Fundação Soares.
2005-11-02
2005-10-31
Irreversível

O filme Irreversível (2002), de Gaspar Noé, é uma obra arrojadíssima. O arrojo não está nas suas duas sequências mais controversas, ainda que estas sejam explícitas e violentas: na primeira dessas sequências, um dos protagonistas envolve-se numa pancadaria e esmaga a cara do oponente com um extintor; na outra, assistimos à violação da linda Monica Bellucci, que se prolonga por nove penosos e intermináveis minutos. Tudo isto é chocante e perturbador, mas a maior ousadia do realizador Noé reside na forma como nos conta as coisas: Irreversível está divido em 13 partes de aproximadamente cinco minutos cada, que são dispostas numa sucessão cronologicamente inversa. Todo o filme é contado do fim para o princípio. Esta estrutura (que também vimos em Memento e Betrayal) contraria as regras mais elementares da escrita para cinema, mas a verdade é que funcionou brilhantemente. O segredo está na figura da ironia dramática.
Fala-se em ironia quando um enunciado revela, para além do seu significado primeiro e evidente, um outro significado, menos óbvio e geralmente contrário ao primeiro. Está-se aqui num plano puramente verbal. Já a ironia de Irreversível está mais ligada às situações. Pensemos no célebre exemplo de um ladrão que está a ser roubado por outro, ou na situação trágica do rei Édipo que, fugindo para escapar a um destino predito, vai precisamente ao seu encontro: há nestes casos um descompasso entre a situação desenvolvida no drama e as palavras ou actos que a acompanham, os quais são entendidos pelo público mas não pelas personagens. Isto é ironia dramática.
Em Irreversível, o espectador ocupa esse lugar privilegiado relativamente às personagens. A estrutura ousada do filme permite que conheçamos de antemão o destino trágico dos nossos heróis, enquanto que estes não suspeitam do que quer que seja e avançam irremediavelmente (ou irreversivelmente…) em direcção à sua própria destruição. Sim, tudo começa pelo clímax, mas são as informações que vão sendo fornecidas a seguir que deixam o espectador verdadeiramente incomodado. Porquê? Porque só então compreendemos como tudo foi, afinal, terrivelmente irónico: ficamos a saber que a vingança foi efectuada contra o homem errado; que pouco antes da violação, a protagonista tinha feito amor com o namorado e conversado longamente sobre os prazeres do sexo; que ela, sem o saber, desperdiçou todas as pequenas oportunidades de evitar a sua agressão; e que tudo aconteceu precisamente quando estava grávida.
Se o filme tivesse sido contado de forma convencional, não teria nada de irónico: seria apenas a história gratuita e mais ou menos banal de uma mulher violada na rua e que depois é vingada pelos amigos. Tal como está estruturado, o argumento acentua não os acontecimentos trágicos do final da noite, mas as razões que conduziram à sua ocorrência. É isto que torna Irreversível tão perturbador, porque não há verdadeiramente razões para o que se passou: aconteceu com os protagonistas, como poderia ter acontecido em qualquer altura com qualquer um de nós. Daí a grande lição de Gaspar Noé: se «todo o mundo é um palco», então talvez haja um encenador supremo que nos manipule a todos como marionetas e nos reserve, sem que nos demos conta, as maiores infelicidades logo ao virar da rua. Será que Deus também se interessa pelo espectáculo?
2005-10-28
Cavaco Silva
Uma das qualidades dos grandes líderes democráticos é a sua coragem física. Os titulares dos órgãos do poder político são meros intérpretes e mediadores da vontade do eleitorado e, nestas coisas, o melhor mesmo é falar directamente com o povo e ouvir as suas reivindicações. Por exemplo, o alemão Walther Rathenau era conhecido pelo seu carisma e contacto com as multidões de todos os estratos; todas as manhãs, à mesma hora, saia da sua casa na Grunewald e dirigia-se à Wilhelmstrasse num carro descoberto – apesar do perigo evidente para a sua segurança pessoal. Já os grandes dirigentes nazis só raramente saíam e, quando o faziam, rodeavam-se de verdadeiros exércitos – o que diz muito sobre a natureza do seu regime. Hoje e ressalvadas as devidas proporções, o nosso Cavaco Silva parece seguir o exemplo nazi em matéria de segurança pessoal: quando se trata de confrontar directamente as pessoas, ele é, na verdade, covarde como uma lebre. Todos nós vimos o espectáculo que se seguiu ao anúncio da sua candidatura: apesar de estar no interior do Centro Cultural de Belém e rodeado pelos seus próprios militantes, o Cavaco nem assim prescindiu de um autêntico regimento de guarda-costas. E se mesmo estes falhassem, o candidato podia ainda contar com a presença tutelar e silenciosa da sua poetisa de Boliqueime: «se não se portarem bem, levam com um poema».
2005-10-18
Viciado em Cinema e TV
Um excelente blogue que é uma espécie de cinéfilos anónimos: o Viciado em Cinema e TV, do Nuno Cargaleiro. O título é magnífico e diz tudo.
2005-10-17
2005-10-14
2005-10-11
Alice
Nuno Lopes e Beatriz Batarda aceitaram um duplo desafio no filme Alice (2005). Por um lado, representar o sofrimento mais profundo a que um ser humano pode estar sujeito: o desaparecimento de um filho. Por outro lado, fazê-lo num meio – o cinema – que é pouco propício a um grau elevado de arte dramática. Na verdade, o habitat natural de um actor é o teatro: no palco, ele é o responsável último pela sua actuação e encontra uma saída livre para a sua inspiração e o seu trabalho criativo. Já o actor de cinema é mais vulnerável, porque a interpretação depende de factores que escapam ao seu controlo: a grandeza dos planos exigirá dele uma maior ou menor intensidade emocional; a iluminação revelará ou encobrirá as imperfeições da pele ou da estrutura óssea; e as necessidades de rodagem não permitirão grandes ensaios. Perante toda a confusão de maquinaria, microfones, lentes e móveis, o actor sente-se por vezes como um acessório miserável e desamparado.
O filme Alice inclui, quase furtivamente, alguns excertos da peça On Average Day, de John Kolvenbach, e permite que Nuno Lopes brilhe em ambos os meios: cinema e teatro. Na peça, o talento do protagonista está na amplitude dos gestos e na habilidade de dizer as palavras de modo simples e directo para mostrar o seu significado interno. A comunicação com o público exige uma possante projecção de voz. No cinema, o menos significa mais. O texto é substituído pelas imagens porque o filme perfeito necessita de poucos diálogos e a interpretação do Nuno é marcada pela contenção de meios: o desespero do pai emerge nos silêncios prolongados, no custo com que masca e engole as batatas fritas ou nas olheiras cavadas pela falta de sono.
Quanto a Beatriz Batarda, a sua participação é breve mas intensa e demonstra que em cinema não há pequenos papéis. A sua primeira aparição é muita expressiva e dá o mote para toda a acção: Beatriz acorda e, ainda toldada pelos efeitos do sono, pede ao marido Nuno Lopes que aqueça o leite para a filha de ambos. Porém, a pequena Alice já há muito que está ausente. Todo o filme está situado algures nessa zona fronteiriça entre a realidade e o sono, quando não se está adormecido nem completamente desperto. Em desespero, a mãe não quer acordar e as suas acções subsequentes são uma tentativa para regressar de uma vez ao mundo dos sonhos, onde ainda poderá estar junto da filha: quer quando se embebeda de soníferos, quer através da sua derradeira tentativa de suicídio. Algo de semelhante acontece com o Nuno, pois a sua linguagem corporal recria muitas vezes a de um sonâmbulo e os seus olhos estão revestidos daquela falta de brilho característica das coisas inanimadas.
Há ainda um terceiro protagonista que não deve ser esquecido: o realizador Marco Martins. Na rodagem de um filme, o público de teatro é substituído pela equipa de realização e é fundamental que a sua relação com o actor seja de fé e absoluta confiança. O próprio Nuno Lopes disse-o expressamente: «era impossível conseguir este resultado se não houvesse uma boa química com o realizador». Não há fórmulas mágicas ou infalíveis para a direcção de actores, mas uma boa comunicação é sempre essencial: o realizador deve saber transmitir com clareza os seus conceitos acerca da maneira como o filme se irá desenvolvendo, mas também acolher as sugestões do elenco que enriqueçam e aprofundem as suas personagens. Quanto a Alice, Martins escolheu a via do improviso e, como sucede com muitos cineastas principiantes e inteligentes, confiou plenamente nas qualidades do seu elenco excepcional: «não se dirige os grandes actores, olha-se para eles».
O filme Alice inclui, quase furtivamente, alguns excertos da peça On Average Day, de John Kolvenbach, e permite que Nuno Lopes brilhe em ambos os meios: cinema e teatro. Na peça, o talento do protagonista está na amplitude dos gestos e na habilidade de dizer as palavras de modo simples e directo para mostrar o seu significado interno. A comunicação com o público exige uma possante projecção de voz. No cinema, o menos significa mais. O texto é substituído pelas imagens porque o filme perfeito necessita de poucos diálogos e a interpretação do Nuno é marcada pela contenção de meios: o desespero do pai emerge nos silêncios prolongados, no custo com que masca e engole as batatas fritas ou nas olheiras cavadas pela falta de sono.
Quanto a Beatriz Batarda, a sua participação é breve mas intensa e demonstra que em cinema não há pequenos papéis. A sua primeira aparição é muita expressiva e dá o mote para toda a acção: Beatriz acorda e, ainda toldada pelos efeitos do sono, pede ao marido Nuno Lopes que aqueça o leite para a filha de ambos. Porém, a pequena Alice já há muito que está ausente. Todo o filme está situado algures nessa zona fronteiriça entre a realidade e o sono, quando não se está adormecido nem completamente desperto. Em desespero, a mãe não quer acordar e as suas acções subsequentes são uma tentativa para regressar de uma vez ao mundo dos sonhos, onde ainda poderá estar junto da filha: quer quando se embebeda de soníferos, quer através da sua derradeira tentativa de suicídio. Algo de semelhante acontece com o Nuno, pois a sua linguagem corporal recria muitas vezes a de um sonâmbulo e os seus olhos estão revestidos daquela falta de brilho característica das coisas inanimadas.
Há ainda um terceiro protagonista que não deve ser esquecido: o realizador Marco Martins. Na rodagem de um filme, o público de teatro é substituído pela equipa de realização e é fundamental que a sua relação com o actor seja de fé e absoluta confiança. O próprio Nuno Lopes disse-o expressamente: «era impossível conseguir este resultado se não houvesse uma boa química com o realizador». Não há fórmulas mágicas ou infalíveis para a direcção de actores, mas uma boa comunicação é sempre essencial: o realizador deve saber transmitir com clareza os seus conceitos acerca da maneira como o filme se irá desenvolvendo, mas também acolher as sugestões do elenco que enriqueçam e aprofundem as suas personagens. Quanto a Alice, Martins escolheu a via do improviso e, como sucede com muitos cineastas principiantes e inteligentes, confiou plenamente nas qualidades do seu elenco excepcional: «não se dirige os grandes actores, olha-se para eles».
2005-10-10
2005-10-02
João Vuvu
«Por isso é que se lembraram de enfiar uma grande patranha nos cornos de um carpinteiro a quem a mulher, uma puta judia, apareceu de barriga. Que não desse ouvidos, não perdesse as estribeiras, que o caso não era de repúdio, antes pelo contrário. Tinha havido, é certo, intervenção divina, obra de uma pomba, mas estava tudo nos conformes, em estado de graça. Mais e melhor: enquanto a aldeola ria a bandeiras despregadas, convenceram o néscio que a boa-nova era para ser espalhada pelo mundo fora: finalmente, coisa nunca vista, ia nascer o filho de Deus. Tarde piaste, arrepelava-se José, tocado pela luz. Ó Maria, descobrimos a imaculada fornicação e esqueci-me de apontar a fórmula. Olhou de soslaio para os pacóvios da terrinha, fez a trouxa e abalou com a mulher a cavalo num burro. Talvez tenha deitado contas à vida e chegado à conclusão que não ganhou para o susto. O bendito fruto fez-se homem e como qualquer pantomineiro que se preze, limitou-se a papaguear a lengalenga que toda a gente já estava farta de saber: que esta vida é um vale de lágrimas.»
2005-09-29
Bocage
Imaginem isto: o autor deste blogue, enfiado numas ceroulas e com uma ridícula cabeleira loura, a correr furiosamente na perseguição do poeta Bocage (o sempre excelente Miguel Guilherme). Vejam na RTP-1, em Janeiro de 2006.
2005-09-26
She Hate Me

She Hate Me (2004) é um caso interessante de intertextualidade. O filme de Spike Lee dialoga constantemente com diversas obras cinematográficas que o precederam e que surgem, de forma mais ou menos explícita, como uma espécie de textos palimpsésticos. Claro que isto não significa nenhum plágio ou falha de originalidade por parte de Lee, pois a intertextualidade é, na verdade, uma característica essencial de todo o texto cinematográfico. Também não significa que a relação do realizador com os seus hipotextos seja necessariamente admirativa: por vezes, a intertextualidade pode funcionar como um meio de desqualificar, de contestar e destruir um código vigente. Aliás, Spike Lee sempre foi conhecido pela sua irreverência demolidora.
Um dos filmes referenciados é O Padrinho. Numa das melhores cenas, o mafioso Turturro imita na perfeição a célebre arenga de Marlon Brando a respeito do negócio das drogas. Um dos chefes levanta-se e diz: «Eu também não acredito em drogas. Durante anos, paguei mais à minha gente para eles não se meterem nesse tipo de negócio. Alguém vem ter com eles e diz: ‘Tenho pó branco. Se fizerem um investimento de dois, três mil dólares, conseguimos um lucro de 50 mil’. Eles não conseguem resistir. Quero controlar isto como um negócio, para o manter respeitável. Não a quero nas escolas. Não a quero vendida às crianças. É uma infâmia. Vamos manter o tráfico entre os pretos, os de cor. São animais, de qualquer modo.» A intertextualidade surge aqui sob a forma da citação explícita, mas não tem nada de admirativa. Bem pelo contrário, o realizador acrescenta-lhe uma boa dose de condescendência – que é a forma mais acintosa de desprezo – e da ironia amarga que lhe é tão característica. Mesmo quando cita, Spike Lee é original.
Outra referência, menos evidente mas igualmente corrosiva, é feita a O Nascimento de Uma Nação. A obra-prima de D. W. Griffith sempre despertou sentimentos contraditórios: por um lado, admiramos o seu pioneirismo técnico e a forma brilhante como estabeleceu ne varietur as regras da gramática visual; por outro, devemos condenar a sua ideologia escandalosamente racista. Na sequência mais controversa do filme, a branca e virginal Mae Marsh resiste aos avanços do negro Walter Long e suicida-se. A sua morte despoletará a revolta do Ku Klux Klan – herói colectivo do filme – contra o domínio negro da sociedade americana. No final, um Jesus Cristo sorridente mete todos os pretos num barco e devolve-os ao continente africano de onde vieram. Para Griffith, a mistura de brancos e negros é condenável, já que significaria o fim de ambas as raças. Por isso, seria moralmente preferível morrer do que ter um relacionamento íntimo com um homem de pele escura.
Quase um século depois de O Nascimento de Uma Nação, Spike Lee responde a esta sequência controversa. Já o tinha feito em The Answer, mas agora é ainda mais corrosivo. Desta vez, o realizador concretiza um dos piores pesadelos de Griffith e dos racistas brancos: um protagonista negro que se relaciona sexualmente com mulheres de todas as raças e com as quais tem, de uma assentada, 19 filhos! Parece esquisito que isto surja numa história sobre corrupção, mas nenhum detalhe é inútil ou faz perder a noção do todo. De todos os filmes de Lee, este é seguramente o seu fresco mais completo e grandioso da América dos nossos dias e que melhor nos explica os males que a afligem – sempre do ponto de vista da minoria africana. Novamente, O Nascimento de Uma Nação: no filme de Griffith, os negros são a causa da ruína da nação e os seus líderes são parodiados como grosseiros ou ridículos e fazem aprovar leis que lhes permitem casar com as brancas; em She Hate Me, as personagens satíricas e unidimensionais são os dirigentes brancos – quer os membros da comissão parlamentar de inquérito, quer o executivo Woody Harrelson – e cabe aos negros defender a integridade da América.
2005-09-21
Jean Hill
«Jean Hill (JH): Eu namorava na altura com um branco chamado Skip. A minha mãe, sempre que atendia o telefone, berrava ‘És branco ou és preto?!’ e se respondiam que eram brancos, ela desligava o telefone… [risos maliciosos] …Mas quando eu conseguia falar com o Skip, ela dizia ‘Esse homem não gosta de ti’ e não sei mais o quê. A minha mãe é uma racista e o John [Waters] e os outros gozavam comigo e diziam que ela era uma Ku Klux Klan negra e que queimava cruzes nos relvados dos brancos.
Jack Stevenson (JS): Então o John chegou a conhecê-la?
JH: Sim, sim!!! Ela correu-o de casa!!! Ela dizia que eu estava a ser explorada por ele. Valha-me Deus, ela sabe esgotar a paciência dos brancos! Eu nem sequer cheguei a apresentá-la! Ela hoje é mais simpática do que era antes. Porque ela aprendeu a aceitar que são estas as pessoas que eu gosto e que eu sou assim mesmo. Mas nos primeiros tempos, 1968, 69, 70 até 75, ó meu Deus, ela era terrível! Pergunta ao John [risos] Ela dizia ao John… “tu usaste a minha filha!” – Porque eu dizia ao John, tu tens de conhecer a minha mãe, ela passa a vida a dizer que eu sou usada. E muitas pessoas meteram-me isso na cabeça. Mas, porque ela – o John não sabe disto, não sei se ele chegou a saber – eu escrevi-lhe uma carta de dezoito páginas. Depois, eu descobri que ele tinha dado 450 dólares a uma rapariga, outra rapariga – eu acabei por conhecer pessoalmente estas pessoas… a mim, acho que ofereceu mais dinheiro do que a qualquer delas. Mas também houve duas pessoas que me tentaram convencer a fazer este filme. Eu nunca o tinha visto nos jornais, nunca o vi em lado nenhum.
JS: E esse filme era DESPERATE LIVING?
JH: Exacto. Eu estava no apartamento de um amigo meu, que era o Sonny Smith, e ele falou com o Sonny e o Sonny disse-me ‘o John está a chegar’ e quer uma gorda para um filme dele. Eu desci para ter com ele e gostei imediatamente do John, mas não sabia se ele tinha gostado de mim. Ele deixou-me tão nervosa que quando fui para lhe apertar a mão, apertei-lhe o pirilau e abanei-o [risos]. Ele escreveu isto no livro Shock Value.
JS: Sim, ele diz que você o apalpou no primeiro encontro.
JH: Nem mais, eu agarrei a fruta e disse [num tom formal] “Olá Senhor Waters, como está?” – Porque é sempre aí que eu agarro nos homens quando estou nervosa.
JS: Então agarrou-lhe no pirilau?
JH: Exactamente! [gargalhadas] Eu sou famosa pelo meu aperto de mão ao pirilau.
JS: Sim, ele disse em Shock Value que isso não o incomodou nada. Se alguma vez houve um primeiro encontro notável, foi esse!»
(in Jack Stevenson: Desperate Visions, Creation Books, Londres, 1996, p. 143-144)
Jack Stevenson (JS): Então o John chegou a conhecê-la?
JH: Sim, sim!!! Ela correu-o de casa!!! Ela dizia que eu estava a ser explorada por ele. Valha-me Deus, ela sabe esgotar a paciência dos brancos! Eu nem sequer cheguei a apresentá-la! Ela hoje é mais simpática do que era antes. Porque ela aprendeu a aceitar que são estas as pessoas que eu gosto e que eu sou assim mesmo. Mas nos primeiros tempos, 1968, 69, 70 até 75, ó meu Deus, ela era terrível! Pergunta ao John [risos] Ela dizia ao John… “tu usaste a minha filha!” – Porque eu dizia ao John, tu tens de conhecer a minha mãe, ela passa a vida a dizer que eu sou usada. E muitas pessoas meteram-me isso na cabeça. Mas, porque ela – o John não sabe disto, não sei se ele chegou a saber – eu escrevi-lhe uma carta de dezoito páginas. Depois, eu descobri que ele tinha dado 450 dólares a uma rapariga, outra rapariga – eu acabei por conhecer pessoalmente estas pessoas… a mim, acho que ofereceu mais dinheiro do que a qualquer delas. Mas também houve duas pessoas que me tentaram convencer a fazer este filme. Eu nunca o tinha visto nos jornais, nunca o vi em lado nenhum.
JS: E esse filme era DESPERATE LIVING?
JH: Exacto. Eu estava no apartamento de um amigo meu, que era o Sonny Smith, e ele falou com o Sonny e o Sonny disse-me ‘o John está a chegar’ e quer uma gorda para um filme dele. Eu desci para ter com ele e gostei imediatamente do John, mas não sabia se ele tinha gostado de mim. Ele deixou-me tão nervosa que quando fui para lhe apertar a mão, apertei-lhe o pirilau e abanei-o [risos]. Ele escreveu isto no livro Shock Value.
JS: Sim, ele diz que você o apalpou no primeiro encontro.
JH: Nem mais, eu agarrei a fruta e disse [num tom formal] “Olá Senhor Waters, como está?” – Porque é sempre aí que eu agarro nos homens quando estou nervosa.
JS: Então agarrou-lhe no pirilau?
JH: Exactamente! [gargalhadas] Eu sou famosa pelo meu aperto de mão ao pirilau.
JS: Sim, ele disse em Shock Value que isso não o incomodou nada. Se alguma vez houve um primeiro encontro notável, foi esse!»
(in Jack Stevenson: Desperate Visions, Creation Books, Londres, 1996, p. 143-144)
2005-09-15
Veio do Outro Mundo

Há tempos, o cineasta Stephen Frears veio a Lisboa e proferiu uma conferência memorável sobre a sua arte. Quando um membro do público lhe perguntou qual era o segredo da realização cinematográfica, Frears respondeu que não havia segredo nenhum ou, se houvesse, seria apenas isto: saber contar com clareza uma história. Parece simples, mas a simplicidade em cinema é, na verdade, muito complicada. Contar uma história em imagens cinematográficas exige pessoas, dinheiro e tecnologia e cabe ao realizador juntar eficazmente todos esses elementos. Além de Frears, um dos realizadores que mais se notabilizou pelo talento narrativo é o Mestre John Carpenter. O filme Veio do Outro Mundo (1982) é um exemplo magnífico da transparência do seu cinema: não há um único momento no filme que seja inútil, redundante ou aborrecido e tudo existe em função de uma excelente história de Don Stuart.
Carpenter investe todo o primeiro terço de Veio do Outro Mundo na descrição do antagonista e é importante que o tenha feito. Tal como um homem se define pelos inimigos que tem, também o protagonista de um filme necessita de bons oponentes, pois não há heroísmo nenhum em suplantar pequenas adversidades. John Carpenter sempre gostou de levar os seus heróis ao limite das suas forças e neste filme concebeu um dos vilões mais poderosos e fascinantes de sempre: um organismo extraterrestre sem morfologia própria, que percorre o espaço e o tempo na busca de seres vivos, incluindo humanos, que assimila e imita na perfeição.
Mas um inimigo poderoso como este não valeria muito, se a solução estivesse disponível ao virar da esquina ou à distância de um telefonema. Os doze protagonistas estão irremediavelmente isolados do mundo exterior e o realizador, como um professor minucioso e paciente, explica-o repetidas vezes. A sequência de abertura é muito instrutiva: um cão é misteriosamente perseguido na neve e os planos gerais das montanhas da Antárctica, entremeados com imagens do quotidiano da estação norte-americana, localizam os nossos heróis no meio desta imensidão desértica e gelada. A tempestade de neve, a destruição do rádio e a inutilização do helicóptero vão agudizar ainda mais esse sentimento de solidão e abandono.
Tudo isto prepara o espectador para um dos momentos mais emocionantes de todo o filme: o teste sanguíneo aos habitantes da estação. A sequência é memorável, porque junta dois ingredientes fundamentais do cinema de terror: a surpresa e o suspense. Hitchcock distinguiu-os na sua célebre entrevista a François Truffaut e ilustrou as suas considerações com o exemplo hipotético de uma bomba oculta debaixo de uma mesa, tendo concluído que o suspense implica o fornecimento ao espectador de informações suplementares que as personagens não possuem. Isto leva-nos de volta à sequência do teste do sangue. À medida que as diversas amostras vão sendo queimadas, a expectativa cresce até ao insustentável, pois sabemos que um dos ocupantes é um impostor: isto é suspense. A surpresa surge quando a criatura é desmascarada e irrompe num frenesim de violência.
Claro que a necessidade de clareza não implica que um filme seja minuciosamente explicado até ao último fotograma e poderão existir zonas menos iluminadas de ambiguidade e incerteza, se for essa a intenção do realizador. O extraordinário desfecho de Veio do Outro Mundo, por exemplo, é tudo menos esclarecedor. Chegou a ser filmado um final optimista, mas o realizador, benza-o Deus, preferiu a solução mais controversa: os dois protagonistas são abandonados no meio da tempestade de neve e nada nos garante que não tenham sido contaminados ou que venham a ser socorridos.
2005-09-12
Blogues excelentes
Mais alguns excelentes blogues para colocar no topo da agenda: Para acabar de vez com a cultura, O Acidental - que agora conta com a participação da grande Ana Albergaria - e Le Petit Fred.
2005-09-05
Ourivesaria judaica
«A vida é um sonho para os sábios, um jogo para os tolos, uma comédia para os ricos, uma tragédia para os pobres.» Sholom Aleichem
«Se ao menos Deus me desse um sinal, como um grande depósito em meu nome num banco suíço.» Woody Allen
«Aprender começa por escutar.» Noah Ben Shea
«A vida, tal como ela realmente é, não é uma Batalha entre o Mal e o Bem, mas entre o Mal e o Pior.» Joseph Brodsky
«A arte é o esforço permanente para competir com a beleza das flores e nunca conseguir ser bem sucedido.» Marc Chagall
«Os homens geralmente não são sinceros em matéria de sexo. Eles não revelam de bom grado a sua sexualidade e usam um sobretudo grosso – um manto de mentiras – para cobri-la, como se estivesse mau tempo no mundo do sexo.» Sigmund Freud
«A experiência é uma boa escola, mas as propinas são elevadas.» Heinrich Heine
«Um cobarde é um herói com mulher, filhos e uma hipoteca.» Martin Kitman
«Ser judeu é ser um amigo da humanidade, um arauto da liberdade e da paz.» Ludwig Lewisohn
«Onde todos pensam o mesmo, ninguém pensa muito.» Walter Lippman
«Experiência – um pente que a vida nos dá quando já não temos cabelo.» Judith Stern
«Não sei dar a fórmula do sucesso, mas sei dar a fórmula do fracasso: tentar agradar a toda a gente.» Herbert Bayard Swope
«A política é a ciência de quem fica com o quê, quando e onde.» Sidney Hillman
«Se ao menos Deus me desse um sinal, como um grande depósito em meu nome num banco suíço.» Woody Allen
«Aprender começa por escutar.» Noah Ben Shea
«A vida, tal como ela realmente é, não é uma Batalha entre o Mal e o Bem, mas entre o Mal e o Pior.» Joseph Brodsky
«A arte é o esforço permanente para competir com a beleza das flores e nunca conseguir ser bem sucedido.» Marc Chagall
«Os homens geralmente não são sinceros em matéria de sexo. Eles não revelam de bom grado a sua sexualidade e usam um sobretudo grosso – um manto de mentiras – para cobri-la, como se estivesse mau tempo no mundo do sexo.» Sigmund Freud
«A experiência é uma boa escola, mas as propinas são elevadas.» Heinrich Heine
«Um cobarde é um herói com mulher, filhos e uma hipoteca.» Martin Kitman
«Ser judeu é ser um amigo da humanidade, um arauto da liberdade e da paz.» Ludwig Lewisohn
«Onde todos pensam o mesmo, ninguém pensa muito.» Walter Lippman
«Experiência – um pente que a vida nos dá quando já não temos cabelo.» Judith Stern
«Não sei dar a fórmula do sucesso, mas sei dar a fórmula do fracasso: tentar agradar a toda a gente.» Herbert Bayard Swope
«A política é a ciência de quem fica com o quê, quando e onde.» Sidney Hillman
2005-09-01
À Boleia pela Galáxia

Há dois momentos do filme À Boleia pela Galáxia (2005), de Douglas Adams, que são memoráveis. Um é a queda do cachalote no planeta Magrathea. O outro é a solução do grande mistério da vida, do universo e de tudo o resto. Adams diz-nos que a resposta consiste simplesmente num número: o 42. A sequência, que é a mais importante de todo o filme, tem intrigado muita gente. A busca de uma teoria unificadora do universo sempre foi uma espécie de Santo Graal da comunidade científica mundial e não é de todo inconcebível que a solução resida num número. Mas porquê 42? Na realidade, o número não significa nada de especial e é nisso que está a graça toda. Adams escolheu 42 simplesmente porque lhe soava bem: em inglês, a alternância dos sons ‘or’, ‘ee’ e ‘oo’ de forty-two produz um efeito cómico. Apenas isso.
Quanto à queda mortal do cachalote, talvez não seja tão célebre como a resposta ao sentido da vida, mas é igualmente intrigante. Nos curtos segundos de vida de que dispõe, o pobre cetáceo procura dar resposta a algumas questões existenciais e diverte-se a atribuir nomes às coisas: o mundo, o estômago, o vento, a cauda ou o solo. A sequência é fascinante porque, em poucas palavras, diz muito sobre o grande mistério da linguagem humana.
Antes do cachalote de Adams, houve um outro colosso que se interessou pela quaestio do significado: o suíço Ferdinand de Saussure, autor do célebre Cours de Linguistique Générale e pai amantíssimo da linguística moderna. Para Saussure, a linguagem é um sistema de relações internas, uma rede de unidades linguísticas que existem umas em função das outras e independentemente de quaisquer outros factores externos. O modelo é anti-referencial, porque arreda do seu seio tudo o que seja extra-linguístico: o signo é uma entidade dual que une não nomes e referentes, mas sim conceitos (significados) e formas acústicas (significantes). Tudo se passa, pois, no interior de um sistema linguístico fechado e autónomo.
O modelo estruturalista de Saussure suscita muitas dúvidas, até porque deixa inexplicada a relação de significação: saber que relações semânticas existem entre as palavras não equivale a conhecer o seu significado. Por isso, a abordagem da semântica cognitiva, que contradiz abertamente a estruturalista, diz-nos que excluir radicalmente da linguística o problema do referente é um erro. A chave está antes na ligação com o mundo: o significado não pode ser dissociado da nossa experiência da realidade, que é perceptiva, física, psicológica, mental, cultural e social.
Estas considerações gerais sobre a semântica cognitiva levam-nos de volta ao malogrado cachalote de À Boleia pela Galáxia. Quando o cetáceo escolhe as palavras com que baptiza as coisas do mundo, não o faz de modo arbitrário. Por exemplo, a respeito do vento: «And hey, what about this whistling roaring sound going past what I’m suddenly going to call my head? Perhaps I can call that... wind! Is that a good name? It’ll do... perhaps I can find a better name for it later when I’ve found out what it’s for. It must be something very important because there certainly seems to be a hell lot of it.» Ou seja, o significado de wind (vento) é cunhado com base na experiência desse fenómeno atmosférico, que é considerada suficientemente importante para ser codificada em palavras. Isto é semântica cognitiva. Inclusivamente, o cachalote chega a afirmar que se reserva a possibilidade de mais tarde vir a encontrar uma palavra mais adequada à conceptualização do vento. O mesmo se diga a propósito do solo: «Hey! What’s this thing suddenly coming toward me very fast? Very, very fast. So big and flat and round, it needs a big wide-sounding name like ... ow ... ound ... round ... ground! That’s it! That’s a good name – ground!»
2005-08-29
2005-08-22
2005-08-19
Resistir!
A Segunda Guerra Mundial trouxe ao de cima aquilo que os seres humanos têm de pior e de melhor. Sim, é verdade que morreram estupidamente 50 milhões de pessoas, mas muitas outras sobreviveram e tinham histórias extraordinárias de coragem e generosidade para contar. A solidariedade foi, nesses anos complicados, uma força de resistência. No interior dos campos de concentração, ela exprimia-se em múltiplos aspectos: desde o sapateiro que reparava o calçado em segredo, do responsável clandestino que levantava o moral e a esperança, ao padre que, secretamente, concedia aos crentes as últimas consolações da fé. Fora dos campos, havia muita gente que lutava por salvar os seus semelhantes desse destino terrível: pessoas como Raoul Wallenberg ou o nosso Aristides de Sousa Mendes ascenderam do anonimato ao estatuto de heróis da Humanidade. A estes actos individuais de altruísmo, juntaram-se os exemplos colectivos de países como a Bulgária, a Finlândia e a Dinamarca que, contra tudo e contra todos, ousaram resistir à demência generalizada.
A Bulgária é um caso notável de resistência. Os seus 50.000 judeus nativos conseguiram sobreviver à guerra, apesar das pressões constantes de Hitler para que fossem deportados. É verdade que em Janeiro de 1941, foram aprovadas algumas leis anti-semitas, mas a sua aplicação esteve longe de ser eficaz. O próprio embaixador alemão em Sofia foi forçado a reconhecer, numa carta endereçada em Junho de 1943 ao seu Ministério, que não havia nada a fazer: «a pressão sobre a Bulgária para que entregue os seus judeus é inútil, porque os búlgaros não partilham das ideias e convicções prevalecentes na Alemanha a propósito dos judeus. Os búlgaros acostumaram-se ao longo de séculos a viver harmoniosamente com as suas minorias de turcos, judeus, arménios, etc., simplesmente porque não existem características distintivas que os separem, ao contrário do que sucede noutros países.»
A pequena Dinamarca, apesar de ter sido ocupada pelos nazis em Abril de 1940, foi outro bastião de inconformismo. A sua comunidade judaica era não só pequena, relativamente homogénea e plenamente integrada, como também teve a felicidade de viver num país de gente lúcida e civilizada. O anti-semitismo nunca foi significativo entre os dinamarqueses, que nos anos da guerra vieram a sabotar sistematicamente os planos nazis: um motorista de ambulância, que sabia que uma captura de judeus estava iminente, escondeu muitos deles num hospital, onde sabia que estariam em segurança; um médico deu tranquilizantes às crianças para que dormissem enquanto eram transportadas para um lugar seguro em barcos de pesca, através de um canal de quase um quilómetro de extensão; e um encadernador, que salvou numerosos fugitivos em barcos de pesca, acabou por ser detido e torturado pelos nazis, mas nunca revelou nada. Curiosamente, estes e outros actos de solidariedade parecem ter contagiado os próprios dirigentes nazis da Dinamarca, que acabaram por colaborar com as acções de salvamento.
A Finlândia, que nem sequer quis discutir a possibilidade de deportar os seus 2000 judeus, foi mais um país que demonstrou que a resistência era possível. Ironicamente, os nazis encontraram as maiores resistências à sua Solução Final da parte dos povos escandinavos, que eram vistos como os seus «irmãos de sangue». A generalidade dos povos nórdicos opôs-se ao anti-semitismo hitleriano, enquanto que muitos dos chamados Untermenschen da Europa do Leste, desprezados pelos nazis, foram cúmplices solícitos quando chegou a hora de denunciar e deportar os judeus.
Resta saber o que é que motivou o heroísmo desses países e indivíduos. É difícil encontrar uma resposta, até porque estamos perante pessoas das mais diversas proveniências sociais e culturais. Jovens, velhos, ricos e pobres, estes heróis representavam uma tal amostragem da população da Europa, que não podiam ser previstos por nenhum indicador utilizado pela sociologia. Ainda para mais, eles apresentavam as mais diversas justificações para os seus actos: muitos eram movidos pelos laços pessoais com os judeus perseguidos, enquanto que outros foram incentivados por grupos e exemplos morais de outros resistentes. Quando perguntaram a um casal o motivo de terem escondido tantos judeus, a mulher respondeu: «Era como ver a casa do vizinho pegando fogo. Você procura imediatamente ajudá-los». Qualquer que seja a razão das suas acções, o importante é que as tenham realizado. Com isso, salvaram não só milhares de pessoas inocentes, mas também – conforme nos ensina a lenda judaica dos Lamed-waf – a Humanidade inteira. A million dollar question é: será que nós também teríamos tido a coragem de fazer o mesmo?
A Bulgária é um caso notável de resistência. Os seus 50.000 judeus nativos conseguiram sobreviver à guerra, apesar das pressões constantes de Hitler para que fossem deportados. É verdade que em Janeiro de 1941, foram aprovadas algumas leis anti-semitas, mas a sua aplicação esteve longe de ser eficaz. O próprio embaixador alemão em Sofia foi forçado a reconhecer, numa carta endereçada em Junho de 1943 ao seu Ministério, que não havia nada a fazer: «a pressão sobre a Bulgária para que entregue os seus judeus é inútil, porque os búlgaros não partilham das ideias e convicções prevalecentes na Alemanha a propósito dos judeus. Os búlgaros acostumaram-se ao longo de séculos a viver harmoniosamente com as suas minorias de turcos, judeus, arménios, etc., simplesmente porque não existem características distintivas que os separem, ao contrário do que sucede noutros países.»
A pequena Dinamarca, apesar de ter sido ocupada pelos nazis em Abril de 1940, foi outro bastião de inconformismo. A sua comunidade judaica era não só pequena, relativamente homogénea e plenamente integrada, como também teve a felicidade de viver num país de gente lúcida e civilizada. O anti-semitismo nunca foi significativo entre os dinamarqueses, que nos anos da guerra vieram a sabotar sistematicamente os planos nazis: um motorista de ambulância, que sabia que uma captura de judeus estava iminente, escondeu muitos deles num hospital, onde sabia que estariam em segurança; um médico deu tranquilizantes às crianças para que dormissem enquanto eram transportadas para um lugar seguro em barcos de pesca, através de um canal de quase um quilómetro de extensão; e um encadernador, que salvou numerosos fugitivos em barcos de pesca, acabou por ser detido e torturado pelos nazis, mas nunca revelou nada. Curiosamente, estes e outros actos de solidariedade parecem ter contagiado os próprios dirigentes nazis da Dinamarca, que acabaram por colaborar com as acções de salvamento.
A Finlândia, que nem sequer quis discutir a possibilidade de deportar os seus 2000 judeus, foi mais um país que demonstrou que a resistência era possível. Ironicamente, os nazis encontraram as maiores resistências à sua Solução Final da parte dos povos escandinavos, que eram vistos como os seus «irmãos de sangue». A generalidade dos povos nórdicos opôs-se ao anti-semitismo hitleriano, enquanto que muitos dos chamados Untermenschen da Europa do Leste, desprezados pelos nazis, foram cúmplices solícitos quando chegou a hora de denunciar e deportar os judeus.
Resta saber o que é que motivou o heroísmo desses países e indivíduos. É difícil encontrar uma resposta, até porque estamos perante pessoas das mais diversas proveniências sociais e culturais. Jovens, velhos, ricos e pobres, estes heróis representavam uma tal amostragem da população da Europa, que não podiam ser previstos por nenhum indicador utilizado pela sociologia. Ainda para mais, eles apresentavam as mais diversas justificações para os seus actos: muitos eram movidos pelos laços pessoais com os judeus perseguidos, enquanto que outros foram incentivados por grupos e exemplos morais de outros resistentes. Quando perguntaram a um casal o motivo de terem escondido tantos judeus, a mulher respondeu: «Era como ver a casa do vizinho pegando fogo. Você procura imediatamente ajudá-los». Qualquer que seja a razão das suas acções, o importante é que as tenham realizado. Com isso, salvaram não só milhares de pessoas inocentes, mas também – conforme nos ensina a lenda judaica dos Lamed-waf – a Humanidade inteira. A million dollar question é: será que nós também teríamos tido a coragem de fazer o mesmo?
2005-08-16
Joana Amaral Dias
Qual é a cronista que é jovem, lúcida e deixa a classe política portuguesa em polvorosa? A Joana Amaral Dias, do blogue Bicho-carpinteiro.
2005-08-12
Direito Penal
Quando eles não têm soluções para os nossos problemas, recorrem à manobra de diversão do costume: o endurecimento das leis penais. Foi o que aconteceu em Inglaterra, com as leis racistas de Tony Blair. Foi também o que aconteceu em Portugal, a pretexto do arrastão que nunca existiu, quando o grupo parlamentar do PP quis que se mandassem adolescentes para a cadeia. E é o que presentemente sucede quando o Ministro António Costa diz que a generalização das prisões preventivas é a solução para os fogos florestais.
2005-08-11
2005-08-08
Fogos florestais
O que há de mais assustador nos fogos florestais portugueses é a sua banalização. A floresta a arder já se tornou um cliché. Agora, até falamos de uma «época de incêndios» com a mesma placidez com que se fala das vindimas ou do Verão de São Martinho.
2005-08-04
Der deutsche Duft
O cheiro é um aspecto fundamental da cultura de qualquer país - tão importante e característico quanto a literatura, a gastronomia ou a língua. O povo alemão, por exemplo, cheira maravilhosamente bem. Em Berlim, mal entramos numa carruagem do metro da cidade, as nossas narinas são presenteadas com uma mistura exótica de rosas, Marzipan e alecrim queimado.
2005-08-01
Mário Soares
Os alemães usam a palavra Altkanzler para designar os seus ex-líderes políticos mais ilustres. A expressão reporta-se concretamente aos antigos chefes de governo que, pelo brilhantismo da sua vida política, continuam a ser ouvidos, respeitados e influentes. A Alemanha teve Willy Brandt. Nós ainda temos o Altkanzler Mário Soares.
2005-07-29
Berlin - Lissabon
Berlim é uma cidade magnífica, com o seu civismo, os seus restaurantes turcos e as suas salas de cinema de culto cuidadosamente preservadas e respeitadas (o Moviemento, o Babylon-Kino, entre tantos outros). Porém, é preciso regressar à nossa Lisboa e tomar conta do blogue, até porque estas saudades portuguesas já apertam. E agora, vamos a isto, Evaristo!
2005-07-21
Lissabon - Berlin
Estou a tirar umas férias na grandiosa cidade de Berlim e já volto. O blogue segue dentro de momentos.
2005-07-18
2005-07-16
João Canijo
O realizador João Canijo é um artista com o dom da palavra. Os seus filmes são uma celebração permanente da linguagem, que é sempre arrojada e inventiva. Aliás, as palavras também são imagens: tal como os pensamentos são retratos das coisas, também as palavras são retratos dos pensamentos – ou seja, as suas imagens. O Mestre Manoel de Oliveira costuma mesmo dizer que a palavra é a essência do cinema. Talvez Canijo não vá tão longe, mas a riqueza vocabular dos seus filmes é, sem dúvida, imensa: as palavras são, tanto quanto os décors, a banda sonora ou o guarda-roupa, um instrumento para criar ambientes e caracterizar personagens.
O filme Sapatos Pretos (1998) é, contudo, de poucas falas. Os diálogos não abundam e, quando surgem, são rudes, secos e frugais. Claro que isto não representa qualquer incapacidade literária acidental do Autor, pois o encanto da linguagem do filme está precisamente nesse seu primitivismo. Os três protagonistas, tão sórdidos que mais se assemelham a bichos, são quase incapazes de falar, porque a palavra é uma faculdade exclusivamente humana. A função poética está, por isso, ausente. A linguagem de Sapatos Pretos animaliza as personagens e liga-se aos instintos básicos que norteiam a sua existência: comer, foder, matar. A frase emblemática do filme, aquela que melhor condensa o seu espírito, é «tenho fome».
Seguiu-se Ganhar a Vida (2001), um retrato impiedoso do quotidiano dos portugueses em França. Para a protagonista, uma Antígona portuguesa e de fracos recursos económicos, a vida é um acto de equilíbrio precário. Não é fácil formar uma identidade cultural quando se está encurralada entre uma sociedade francesa hostil e estranha – a mesma que ainda hoje proíbe os véus islâmicos nas escolas – e uma comunidade portuguesa insular, autista e com os olhos virados para dentro. A linguagem, que é também um produto cultural, hesita entre um mundo e outro: expressões como «eu tenho um rendez-vous com o Manel», «ela era muito copine com o Álvaro» ou «fazer um cadeauzinho» multiplicam-se ao longo do filme todo.
A morte injusta de um filho cairá como uma bomba atómica neste quotidiano frágil. Quando a protagonista resolve redigir «uma pétition» para que estas coisas não se repitam, só encontra incompreensão por parte dos seus compatriotas. Mas ela não pretende desistir. O seu inconformismo, que emerge no clamor «A gente está aqui no que é nosso», acabará por conduzi-la às maiores infelicidades e, no final, ao suicídio. Vem-nos à memória aquela interrogação tenebrosa da Antígona sofocliana: «Quem vive como eu, no meio de tantas calamidades, como não há-de considerar a morte um benefício?»
Depois de França, Canijo virou-se para o submundo dos bares de alterne, com os seus dramas, os seus crimes e a sua linguagem particular. O filme Noite Escura (2004) é uma cacofonia permanente: as conversas sussurradas, os sotaques estrangeiros e o jargão da noite sobrepõem-se. As palavras são sujas e impregnadas de sexo. Toda esta linguagem evolui numa espiral ascendente de violência, que culmina com a matança às mãos de um bando de Eríneas sob a forma de mafiosos de Leste. O destino, protagonista invisível de todas as tragédias gregas, assim o impôs: «o que tem de ser tem muita força».
2005-07-11
As coisas boas da vida
1º - A liberdade
2º - A mãe, o pai, o irmão e a família
3º - Os filmes, bons ou maus
4º - Os livros
5º - A presunção de inocência, o direito ao silêncio e a proibição da reformatio in pejus
6º - Uma feijoada de seitan no melhor restaurante macrobiótico de Lisboa
7º - Óbidos
8º - O cafezinho que antecede a sessão de cinema
2º - A mãe, o pai, o irmão e a família
3º - Os filmes, bons ou maus
4º - Os livros
5º - A presunção de inocência, o direito ao silêncio e a proibição da reformatio in pejus
6º - Uma feijoada de seitan no melhor restaurante macrobiótico de Lisboa
7º - Óbidos
8º - O cafezinho que antecede a sessão de cinema
2005-07-08
Conferência de Imprensa
Por Harold Pinter
«Imprensa: Senhor Ministro, antes de ser Ministro da Cultura creio que o senhor foi chefe da Polícia Secreta.
Ministro: Correcto.
Imprensa: Vê alguma contradição entre estes dois papéis?
Ministro: Absolutamente nenhuma. Como chefe da Polícia Secreta tinha a responsabilidade, especificamente, de proteger e garantir a nossa herança cultural de forças cuja intenção é subvertê-la. Defendíamo-nos do verme. E ainda nos defendemos.
Imprensa: O verme?
Ministro: O verme.
Imprensa: Como chefe da Polícia Secreta qual era a sua política em relação às crianças?
Ministro: Víamos as crianças como uma ameaça se - por outras palavras - elas fossem filhas de famílias subversivas.
Imprensa: Então como pôs em prática a sua política em relação a elas?
Ministro: Raptávamo-las e educávamo-las como deve ser ou então matávamo-las.
Imprensa: Como é que as matavam? Qual era o método adoptado?
Ministro: Partir-lhes o pescoço.
Imprensa: E às mulheres?
Ministro: Violá-las. Fazia tudo parte de um processo educativo, percebe. Um processo cultural.
Imprensa: Qual era a natureza da cultura por si proposta?
Ministro: Uma cultura baseada no respeito e nas regras da lei.
Imprensa: Como é que vê o seu actual papel de Ministro da Cultura?
Ministro: O Ministro da Cultura apoia-se nos mesmos princípios que os guardiões da Segurança Social. Acreditamos numa compreensão saudável, musculada e terna da nossa herança cultural e das nossas obrigações culturais. Estas obrigações incluem naturalmente a lealdade ao mercado livre.
Imprensa: E a diversidade cultural?
Ministro: Nós subscrevemos a diversidade cultural, temos fé numa troca de pontos de vista flexível e vigorosa, acreditamos na fecundidade.
Imprensa: E a divergência crítica?
Ministro: A divergência crítica é aceitável - se for deixada em casa. O meu conselho é o seguinte - deixem-na em casa. Guardem-na debaixo da cama. Ao lado do penico do mijo.
Ele ri-se.
É lá que é o lugar dela.
Imprensa: Disse no penico do mijo?
Ministro: Se não tens cuidado eu ponho-te a cabeça no penico do mijo.
Ele ri-se. Eles riem-se.
Deixe-me esclarecer isto bem. Precisamos da divergência crítica para nos manter nas pontas dos pés. Mas não a queremos no mercado ou nas avenidas e praças das nossas grandes cidades. Não a queremos manifestada nas casas das nossas grandes instituições. Damo-nos por felizes se ela ficar em casa, isso significa que nós podemos aparecer a qualquer altura e ler o que está debaixo da cama, discuti-lo com o escritor, dar-lhe pancadinhas na cabeça, apertar-lhe a mão, dar-lhe talvez um pequeno pontapé no rabo ou nos tomates e deitar fogo a tudo. Através deste método mantemos a sociedade livre de infecções. Existe, claro, contudo, sempre espaço para a confissão, o recolhimento e a redenção.
Imprensa: Então vê o seu papel como Ministro da Cultura como vital e frutuoso?
Ministro: Imensamente frutuoso. Acreditamos na bondade inata do vosso manel vulgar e da vossa maria. É isto que procuramos proteger. Procuramos proteger a bondade essencial do vosso manel vulgar e da vossa maria vulgar. Vemos isso como uma obrigação moral. Estamos determinados a protegê-los da corrupção e da subversão com todos os meios que temos à nossa disposição.
Imprensa: Senhor Ministro, obrigado pelas suas palavras francas.
Ministro: O prazer foi meu. Posso dizer mais uma coisa?
Imprensa: (vários) Por favor. Sim. Sim por favor. Por favor diga. Sim!
Ministro: De acordo com a nossa filosofia... aquele que se perde é encontrado. Obrigado!
Aplausos. O Ministro acena e sai. »
«Imprensa: Senhor Ministro, antes de ser Ministro da Cultura creio que o senhor foi chefe da Polícia Secreta.
Ministro: Correcto.
Imprensa: Vê alguma contradição entre estes dois papéis?
Ministro: Absolutamente nenhuma. Como chefe da Polícia Secreta tinha a responsabilidade, especificamente, de proteger e garantir a nossa herança cultural de forças cuja intenção é subvertê-la. Defendíamo-nos do verme. E ainda nos defendemos.
Imprensa: O verme?
Ministro: O verme.
Imprensa: Como chefe da Polícia Secreta qual era a sua política em relação às crianças?
Ministro: Víamos as crianças como uma ameaça se - por outras palavras - elas fossem filhas de famílias subversivas.
Imprensa: Então como pôs em prática a sua política em relação a elas?
Ministro: Raptávamo-las e educávamo-las como deve ser ou então matávamo-las.
Imprensa: Como é que as matavam? Qual era o método adoptado?
Ministro: Partir-lhes o pescoço.
Imprensa: E às mulheres?
Ministro: Violá-las. Fazia tudo parte de um processo educativo, percebe. Um processo cultural.
Imprensa: Qual era a natureza da cultura por si proposta?
Ministro: Uma cultura baseada no respeito e nas regras da lei.
Imprensa: Como é que vê o seu actual papel de Ministro da Cultura?
Ministro: O Ministro da Cultura apoia-se nos mesmos princípios que os guardiões da Segurança Social. Acreditamos numa compreensão saudável, musculada e terna da nossa herança cultural e das nossas obrigações culturais. Estas obrigações incluem naturalmente a lealdade ao mercado livre.
Imprensa: E a diversidade cultural?
Ministro: Nós subscrevemos a diversidade cultural, temos fé numa troca de pontos de vista flexível e vigorosa, acreditamos na fecundidade.
Imprensa: E a divergência crítica?
Ministro: A divergência crítica é aceitável - se for deixada em casa. O meu conselho é o seguinte - deixem-na em casa. Guardem-na debaixo da cama. Ao lado do penico do mijo.
Ele ri-se.
É lá que é o lugar dela.
Imprensa: Disse no penico do mijo?
Ministro: Se não tens cuidado eu ponho-te a cabeça no penico do mijo.
Ele ri-se. Eles riem-se.
Deixe-me esclarecer isto bem. Precisamos da divergência crítica para nos manter nas pontas dos pés. Mas não a queremos no mercado ou nas avenidas e praças das nossas grandes cidades. Não a queremos manifestada nas casas das nossas grandes instituições. Damo-nos por felizes se ela ficar em casa, isso significa que nós podemos aparecer a qualquer altura e ler o que está debaixo da cama, discuti-lo com o escritor, dar-lhe pancadinhas na cabeça, apertar-lhe a mão, dar-lhe talvez um pequeno pontapé no rabo ou nos tomates e deitar fogo a tudo. Através deste método mantemos a sociedade livre de infecções. Existe, claro, contudo, sempre espaço para a confissão, o recolhimento e a redenção.
Imprensa: Então vê o seu papel como Ministro da Cultura como vital e frutuoso?
Ministro: Imensamente frutuoso. Acreditamos na bondade inata do vosso manel vulgar e da vossa maria. É isto que procuramos proteger. Procuramos proteger a bondade essencial do vosso manel vulgar e da vossa maria vulgar. Vemos isso como uma obrigação moral. Estamos determinados a protegê-los da corrupção e da subversão com todos os meios que temos à nossa disposição.
Imprensa: Senhor Ministro, obrigado pelas suas palavras francas.
Ministro: O prazer foi meu. Posso dizer mais uma coisa?
Imprensa: (vários) Por favor. Sim. Sim por favor. Por favor diga. Sim!
Ministro: De acordo com a nossa filosofia... aquele que se perde é encontrado. Obrigado!
Aplausos. O Ministro acena e sai. »
2005-07-07
Cultura
As televisões portuguesas ainda não sabem o que é o jornalismo cultural. A TVI é, obviamente, a pior de todas, mas as outras também não se livram de críticas. O país está cheio de artistas talentosos e, não obstante, os horários nobres continuam entregues a futebolistas analfabetos e políticos. Actores, músicos, escritores e cineastas? Nem vê-los!
2005-07-04
O Exorcista

O filme O Exorcista (1973), de William Friedkin, possui uma complexidade que o faz assemelhar-se a um enorme labirinto. Trata-se de uma obra atravessada por inúmeras relações e referências interiores: uma impressão ou um acontecimento correlacionam-se de um extremo ao outro do filme; cada figura só adquire sentido quando contraposta a todas as outras figuras; e cada plano só pode ser compreendido e iluminado pela totalidade do conjunto. Toda esta arquitectura complicada é animada por uma questão eterna, que é também um dos temas predilectos do cinema de terror: o conflito entre religião e ciência. As possessões pelo diabo sempre foram, aliás, uma dessas zonas fronteiriças em que ciência médica e religião se cruzam com desconfiança mútua e propõem soluções próprias.
A primeira parte do filme dá a palavra à medicina. A jovem protagonista Regan Teresa MacNeil, tomada por um mal desconhecido, é submetida pela sua mãe a uma longa via sacra de exames médicos: radiografias, um electroencefalograma e uma biopsia à coluna, ao que se segue uma análise psiquiátrica e um período de observação na Clínica Barringer, em Dayton. A estes exames, que mais parecem rituais de magia negra, o filme acrescentou o arrepiante arteriograma, que provocou na altura inúmeros enjoos e desmaios entre os espectadores. A ciência médica será, todavia, impotente para descortinar a origem do mal da protagonista.
A segunda parte é protagonizada pela religião. Os dois médicos de Regan são substituídos por dois exorcistas da Igreja Católica. Um desses sacerdotes, Damien Karras, é como que um cruzamento exótico dos domínios da religião e da medicina, pois é um padre que exerce simultaneamente as funções de conselheiro psiquiátrico. Karras cursou medicina em escolas tão respeitáveis como Harvard, Bellevue ou Johns Hopkins e, se não fosse padre, seria já «um famoso psiquiatra da Park Avenue». Mais: ele é um jesuíta. A Companhia de Jesus desempenhou um papel considerável no desenvolvimento científico e o peso da ciência nos seus colégios foi sempre mantido contra tudo e contra todos. Karras, como os seus colegas jesuítas, é um religioso que procura servir a ciência sem trair a sua fé.
As duas partes do filme são intervaladas por uma sequência memorável: a conferência dos médicos na Clínica Barringer. O director da clínica desdobra-se em pretextos e explicações inconsequentes, mas Chris MacNeil já não ouve nada, perdida que está no mundo do seu desespero. De súbito, o médico remete-se a um silêncio longo e agoirento. Segue-se a afirmação mais surpreendente de todo o filme: «Alguma vez ouviu falar em exorcismos?». A sugestão cai como uma bomba. Chris, que nunca foi uma mulher religiosa, está incrédula: «Estão a dizer-me que leve a minha filha a um feiticeiro?». Claro que o médico procura amenizar o insólito das suas palavras, ao dizer que é um tratamento de choque e que assenta puramente no poder de sugestão, mas não deixa de assinar a capitulação da ciência.
A admissibilidade dos exorcismos pressupõe que o diabo seja uma entidade concreta e actuante no mundo dos homens. Há, porém, uma teologia racionalista e reducionista que relega o demónio e o mundo dos espíritos para a condição de simples etiqueta que cobre tudo aquilo que ameaça o homem na sua subjectividade. Estas concepções foram condenadas pelo famoso discurso do Papa Paulo VI de 15 de Novembro de 1972, que fala de um «espírito sombrio e perturbador que realmente existe e actua com argúcia traiçoeira; ele é o inimigo secreto que semeia erros e desgraças na história humana».
Um vilão destes assenta como uma luva a um filme como O Exorcista. Teria sido possível que a protagonista estivesse a ser atormentada apenas pela alma de um defunto. Mas não. Regan diz claramente que é prisioneira do próprio diabo, o grande algoz da humanidade. Aliás, na iconografia cristã, o diabo é geralmente associado a um labirinto – figura central em todo o filme, desde as ruínas do Iraque até às ruas tortuosas de Washington – no qual os homens são aprisionados. Mas será possível a libertação de um antagonista como este, que se confunde com o próprio Mal? Talvez. O diabo não é invencível: ele na realidade tem medo, porque a vida é uma invenção divina e o homem o seu produto mais acabado.
A este imenso vilão opõe-se um herói fraco e hesitante. Karras, que aconselha profissionalmente padres com crises de vocação, é um sacerdote atormentado: o falecimento recente da mãe num asilo miserável deixou-o sem fé e dilacerado por um sentimento de culpa atroz. Todos os seus medos são representados simbolicamente na celebérrima sequência onírica: os motivos do relógio de pêndulo, dos cães do deserto ou da medalha de São José que servirá como uma espécie de fio de Ariadne ressurgirão ciclicamente ao longo de todo o filme. A sucessão de imagens, que mais parece saída de um daqueles antigos filmes surrealistas que Friedkin tanto aprecia, é inquietante e sugere que os destinos dos três protagonistas estão de algum modo ligados. Outra sequência admirável pelo seu poder de síntese é a da visita à Mãe Karras: a entrada do padre provoca grande agitação junto das doentes mentais (estarão também possessas?) e o comportamento da idosa acamada prenuncia os malefícios que mais tarde afligirão a pobre Regan.
2005-07-02
Blogues óptimos
Vamos lá a ver se não me esqueço de nenhum: as Teoriastupidas, do Lord Dogs; o Cine 7, do Turat Bartoli; a Avenida Vastulec, da Helena Miranda; e ainda os Meus Silêncios e Shine, ambos da Gabs.
2005-06-27
A Senhora Hitchcock

Um dos segredos do sucesso de Alfred Hitchcock foi o seu talento para escolher excelentes colaboradores. Um filme é uma obra colectiva e nenhum realizador, por mais genial que seja, pode ter a pretensão de querer controlar tudo sozinho: é necessário seleccionar uma boa equipa, ouvir as pessoas e confiar nelas. Hitch sabia-o bem e rodeou-se sempre de artistas tão notáveis como Saul Bass, Joseph Stefano, Ernest Lehman ou Bernard Herrmann. Porém, a pessoa que mais e melhor colaborou com Hitchcock é praticamente uma desconhecida: a sua mulher, Alma Lucy Reville. No seu texto The Woman Who Knows Too Much (1956), o cineasta descreve-a como uma profissional brilhante, cozinheira excepcional e a sua maior confidente.
Um dia mais velha que o marido, Alma iniciou-se no cinema aos 16 anos de idade. Trabalhadora esforçada, já havia ascendido aos cargos de anotadora e montadora muito antes de Hitchcock ter concebido o seu primeiro inter-título para um filme mudo. O pedido de casamento teve lugar no decurso de uma turbulenta viagem de barco, por entre ondas impiedosas e enjoos; nessas condições e confrontada com tão ousada proposta, Alma limitou-se a resmungar, acenar afirmativamente com a cabeça e a arrotar ruidosamente. «Foi uma das minhas melhores cenas», contou mais tarde o realizador, «um pouco pobre nos diálogos, mas maravilhosamente encenada e interpretada com enorme realismo».
O nome de Alma surge creditado em muitos dos filmes de Hitchcock, desde 1925 até Pânico nos Bastidores, em 1950. Alguns críticos e biógrafos, como Donald Spoto, afirmam que isto poderia ser apenas uma forma ardilosa de arrecadar mais um ordenado, o que é um perfeito disparate. A influência da Senhora Hitchcock era, na realidade, decisiva. Ao fim da tarde, quando o realizador regressava a casa, ambos discutiam longamente o guião do filme que estivesse na altura em produção e divisavam novas ideias para a sessão do dia seguinte com qualquer dos escritores mundialmente reputados que o Mestre tivesse então contratado.
Além das suas qualidades profissionais, os amigos do casal falam de um espírito inquebrantável que permitia a Alma conviver com um temperamento tão peculiar como o de Hitchcock. Com efeito, o realizador empregava na condução do seu quotidiano a mesma minúcia obsessiva com que dirigia os seus filmes: nunca abandonava o gabinete nas horas de expediente; vestia sempre o mesmo tipo austero de fatos, de modo a que não despendesse inutilmente as suas energias na escolha da roupa; quando viajava, utilizava sempre as mesmas suites nos hotéis para que se pudesse sentir seguro e confortável.
Nas palavras do próprio Hitchcock, «Alma é extraordinária por ser tão normal. E a normalidade é algo de anormal nos dias que correm. Ela tem uma presença incontornável, uma personalidade viva, um rosto sempre luminoso». Que teria sido do notável realizador sem essa fonte inesgotável de força a seu lado? Provavelmente, um profissional não tão notável e bem menos interessante. Felizmente para nós, o cinema juntou-os e ambos não só protagonizaram uma verdadeira e grande história de amor, como também conceberam alguns dos filmes mais emocionantes de sempre.
2005-06-23
O Amor
«Todo o tempo que não é dedicado ao amor é perdido.» Torquato Tasso
«Mantém os olhos muito abertos antes do matrimónio e semicerrados depois.» Provérbio
«Um matrimónio está bem edificado se ambos os cônjuges sentem habitualmente a necessidade de discutir ao mesmo tempo.» Jean Rostand
«Quando estamos apaixonadas por alguém, queremos estar sempre a seu lado, excepto quando saímos para fazer umas compras a debitar na conta dele.» Miss Piggy
«Haverá sempre uma guerra entre os sexos, porque homens e mulheres querem coisas muito diferentes: os homens querem mulheres e as mulheres querem homens.» George Burns
«O amor é como a guerra: fácil de começar, mas muito difícil de parar.» H. L. Mencken
«Quando te casares, faz a ti mesmo esta pergunta: acreditas que serás capaz de conversar com aquela pessoa até à velhice? Tudo o resto no matrimónio é transitório.» Friedrich Nietzsche
«O amor não consiste em contemplar-se mutuamente mas em olhar juntos na mesma direcção.» Antoine de Saint-Exupéry
«Um arqueólogo é o melhor marido a que uma mulher pode aspirar, pois quantos mais anos esta tiver maior será o interesse dele.» Agatha Christie
«No amor há duas desgraças: guerra e paz.» Horácio
«O grande segredo de um matrimónio feliz é tratar todos os desastres como incidentes e nenhum dos incidentes como desastre.» Harold Nicholson
«Segundo casamento: triunfo da esperança sobre a experiência.» Samuel Johnson
«Casa-te de qualquer maneira: se encontrares uma boa esposa, serás feliz; se for má, serás filósofo.» Sócrates
«Mantém os olhos muito abertos antes do matrimónio e semicerrados depois.» Provérbio
«Um matrimónio está bem edificado se ambos os cônjuges sentem habitualmente a necessidade de discutir ao mesmo tempo.» Jean Rostand
«Quando estamos apaixonadas por alguém, queremos estar sempre a seu lado, excepto quando saímos para fazer umas compras a debitar na conta dele.» Miss Piggy
«Haverá sempre uma guerra entre os sexos, porque homens e mulheres querem coisas muito diferentes: os homens querem mulheres e as mulheres querem homens.» George Burns
«O amor é como a guerra: fácil de começar, mas muito difícil de parar.» H. L. Mencken
«Quando te casares, faz a ti mesmo esta pergunta: acreditas que serás capaz de conversar com aquela pessoa até à velhice? Tudo o resto no matrimónio é transitório.» Friedrich Nietzsche
«O amor não consiste em contemplar-se mutuamente mas em olhar juntos na mesma direcção.» Antoine de Saint-Exupéry
«Um arqueólogo é o melhor marido a que uma mulher pode aspirar, pois quantos mais anos esta tiver maior será o interesse dele.» Agatha Christie
«No amor há duas desgraças: guerra e paz.» Horácio
«O grande segredo de um matrimónio feliz é tratar todos os desastres como incidentes e nenhum dos incidentes como desastre.» Harold Nicholson
«Segundo casamento: triunfo da esperança sobre a experiência.» Samuel Johnson
«Casa-te de qualquer maneira: se encontrares uma boa esposa, serás feliz; se for má, serás filósofo.» Sócrates
Montanha Mágica
O extraordinário desfecho do romance Montanha Mágica (1924), de Thomas Mann, deixa o leitor inquieto. Tudo termina com o número sete. Além dos sete grupos no salão de jantar e das sete pessoas à mesa dos «russos ordinários», foram sete os anos que o protagonista Hans Castorp passou nessa Montanha. O próprio livro explica porquê: «não é um número redondo ao gosto dos partidários do sistema decimal, e todavia é um número bom, prático à sua maneira; um lapso de tempo mítico e pitoresco, pode dizer-se, e mais satisfatório para a alma do que, por exemplo, uma árida meia dúzia». Trata-se, na verdade, de um número magnífico para concluir um romance. O sete é o número do Homem completo. Significa perfeição, totalidade, unidade. Indica a modificação após a conclusão de um ciclo e uma renovação positiva. Mas qual é, afinal, o ciclo que se encerra no livro de Mann?
Termina, antes de mais, o processo de aprendizagem de Hans Castorp. O nosso herói é agora um homem livre e desligado da vida da planície de onde proveio. Essa ruptura manifesta-se por uma série de sinais óbvios: Hans já não escreve nem recebe cartas; deixou de ler a imprensa e de encomendar ao exterior os seus charutos; prescindiu do calendário e do seu relógio; e nem sequer compareceu no funeral do tio-avô Tienappel. Que diferença relativamente ao jovem simplório que há sete Verões atrás tinha chegado de Hamburgo! A aprendizagem não foi, todavia, convencional, até porque a escola que frequentou é um estabelecimento de ensino sui generis: o Sanatório Internacional Berghof.
O sanatório suíço é um lugar misterioso, mas que propicia como nenhum outro o estudo das artes e ciências. Está situado a uma altitude espantosa – mil e seiscentos metros acima do nível do mar – lá, onde também se encontra o mundo das ideias essenciais de Platão. A circunstância de ser suíço também não é fortuita: a Suiça, país neutral e poliglota, é um pequeno laboratório das ideias do seu tempo, um espaço asséptico e não contaminado pelas grandes concepções políticas e ideológicas. Aí, o estudo decorre sem pressas, paulatino e ao ritmo das estações do ano. Mas a calma é precária, porque a Primeira Grande Guerra em breve ressoa como um trovão pelo mundo inteiro e não poupa ninguém à sua passagem, nem o pobre Hans Castorp.
Há por isso um outro ciclo que se completa: o do destino trágico da própria Europa. O sanatório é uma imagem simbólica de uma sociedade europeia intimamente corroída, atolada num estado de sonolência e quietismo do qual só despertará com a irrupção da Primeira Guerra Mundial. O conflito, já se sabe, surgiu por razões perfeitamente fúteis. Mas isso não significa que a tragédia do jovem protagonista e de todo o continente seja completamente em vão. Bem pelo contrário! Hans decidiu regressar e, como é característico de um herói, fez a opção mais difícil: escolheu o serviço à sociedade, redimiu-se dos seus sete anos de dolce far niente e concluiu com enorme verticalidade a sua educação. A mensagem de Thomas Mann é optimista e intemporal: «vamos, é preciso agir!»
Termina, antes de mais, o processo de aprendizagem de Hans Castorp. O nosso herói é agora um homem livre e desligado da vida da planície de onde proveio. Essa ruptura manifesta-se por uma série de sinais óbvios: Hans já não escreve nem recebe cartas; deixou de ler a imprensa e de encomendar ao exterior os seus charutos; prescindiu do calendário e do seu relógio; e nem sequer compareceu no funeral do tio-avô Tienappel. Que diferença relativamente ao jovem simplório que há sete Verões atrás tinha chegado de Hamburgo! A aprendizagem não foi, todavia, convencional, até porque a escola que frequentou é um estabelecimento de ensino sui generis: o Sanatório Internacional Berghof.
O sanatório suíço é um lugar misterioso, mas que propicia como nenhum outro o estudo das artes e ciências. Está situado a uma altitude espantosa – mil e seiscentos metros acima do nível do mar – lá, onde também se encontra o mundo das ideias essenciais de Platão. A circunstância de ser suíço também não é fortuita: a Suiça, país neutral e poliglota, é um pequeno laboratório das ideias do seu tempo, um espaço asséptico e não contaminado pelas grandes concepções políticas e ideológicas. Aí, o estudo decorre sem pressas, paulatino e ao ritmo das estações do ano. Mas a calma é precária, porque a Primeira Grande Guerra em breve ressoa como um trovão pelo mundo inteiro e não poupa ninguém à sua passagem, nem o pobre Hans Castorp.
Há por isso um outro ciclo que se completa: o do destino trágico da própria Europa. O sanatório é uma imagem simbólica de uma sociedade europeia intimamente corroída, atolada num estado de sonolência e quietismo do qual só despertará com a irrupção da Primeira Guerra Mundial. O conflito, já se sabe, surgiu por razões perfeitamente fúteis. Mas isso não significa que a tragédia do jovem protagonista e de todo o continente seja completamente em vão. Bem pelo contrário! Hans decidiu regressar e, como é característico de um herói, fez a opção mais difícil: escolheu o serviço à sociedade, redimiu-se dos seus sete anos de dolce far niente e concluiu com enorme verticalidade a sua educação. A mensagem de Thomas Mann é optimista e intemporal: «vamos, é preciso agir!»
2005-06-19
Extrema-direita
A vida está difícil para toda a gente e a intolerância aproveita para vir ao de cima, como uma retrete entupida: ontem, foi dia de ajuntamento de fascistas no Martim Moniz, em Lisboa.
2005-06-15
2005-06-07
Blogues
Mais algumas pérolas da blogosfera: o Reservoir Movies, o Port Moresby e a Revolta dos Pastéis de Nata.
2005-06-01
Manuela Moura Guedes
A jornalista Manuela Moura Guedes disse que «se Fátima Felgueiras está acusada de tantos crimes, por alguma razão é». O que a Moura Guedes não sabe é que uma acusação não é mais que uma opinião, por vezes tendenciosa, formulada pelo Ministério Público a respeito de um processo criminal. Apenas isso e nada mais. Não é uma sentença, não produz caso julgado nem faz prova do que quer que seja. Infelizmente, há pessoas que não têm inteligência suficiente para perceber isto.
2005-05-25
João de Deus

«Vieram os moscovitas, então denominados bavarois, as mousses, os parfaits, os soufflés frios, as bombas... Até que os americanos, com os seus sorvetes à base de nata, por vezes com adições de maizena e gelatina, inventaram o ice cream, actualmente popularizado por toda a parte. É imenso o império do ice cream.»
«Sabes que sou uma mulher de muitos caralhos. Tudo o que tenho saiu-me do pelo. Posso ter sido puta, mas doida é que nunca fui. Ó filho, queres papar um broche? Paga. É tanto. Sempre a facturar. Coração ao largo!»
«Pensa-se muito quando, para onde quer que nos viremos, encontramos sempre quatro intermináveis, monótonas paredes. Tem-te, não caias, digo de mim para mim. E se caires, nunca te esqueças que também se aprende a cair. A carne é fraca, mas o vento paira livremente sobre as águas.»
«Lavai-vos raparigas! Passai-vos todos os dias por água e sabão. Afugentai os factores patogénicos, vulgo micróbios. E Rosarinho, minha filha, ao servires um gelado, nunca te esqueças que também um dia serás mãe.»
«A humidade vinda do rio encharcava-me os ossos. Deixei de ouvir as badaladas da Sé. Acabou-se-me o tabaco, o que ainda assim foi o pior de tudo. A comichão já não me incomodava muito, a não ser nas costas das mãos. O ardor nos tomates só começou mais tarde, pela manhã, se não estou em erro. Rabiei durante não sei quanto tempo. Não se via vivalma, nem um ladrão de carros para dar dois dedos e cravar um cigarro. Por fim, lá topei uma padaria aberta. As carcaças cairam-me na fraqueza. Costume. Tenho um pacote de manteiga escondido no meu quarto. Aposto que a puta da velha não o encontra nem que vire tudo do avesso. Já não caio noutra.»
2005-05-24
Fazedor de Teatro
A nossa querida Renata Portas acaba de estrear o seu Fazedor de Teatro, um blogue excelentemente escrito e encenado. A entrada é grátis.
2005-05-23
Bur(r)ocracia
Uma iniciativa meritória na luta contra a burocracia e ineficiência da nossa Administração Pública: o Portal Kafka da APDSI - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação.
2005-05-20
Por Tu Graal
Ainda recentemente, A Bomba homenageou publicamente alguns blogues mais alternativos que, ao contrário da maioria, nas últimas semanas nada escreveram sobre a seca, o Sporting e o papa. Sucede, porém, que um dos melhores blogues portugueses tem produzido abundantes e inspiradas crónicas precisamente sobre a seca, o Sporting e o papa: o excelente Por Tu Graal. Porque o nosso Afonso Henriques é dos blogonautas que tem coisas importantes para dizer e sabe dizê-las de uma forma sedutora, A Bomba acha por bem corrigir esta injustiça e não só indultar o dito blogonauta como conceder-lhe a presente menção honrosa. Publique-se.
2005-05-18
Guerra dos sexos
Uma das coisas mais extraordinárias que alguma vez li a respeito da guerra dos sexos é esta crónica do excelente blogue Horas Mortas.
Propinas (ii)
Um estudo que deixa em cacos as pretensas razões dos defensores das actuais propinas milionárias: 40% dos estudantes universitários portugueses não concluem os seus cursos por razões financeiras (in Jornal de Notícias, de 16.05.2005).
2005-05-17
Originalidade
Uma palavrinha de elogio a alguns dos pouquíssimos blogues que, nas últimas semanas, não mencionaram a seca, o Sporting ou a eleição do papa: a Blue Shell, o Chora-Que-Logo-Bebes e o Gonn 1000. Parabéns e viva a diferença!
2005-05-16
Agenda
Mais alguns bons blogues que vale a pena juntar à agenda: A Miúda dos Disparates, o Berra-boi e o Cinema Xunga 2.
2005-05-14
Afixe
Um dos blogonautas mais polémicos da era pós-Pipi é o João Garcez, com a sua colecção de Cromos Difíceis. No Afixe, pois claro.
2005-05-11
Dicionários
Alguns dos melhores dicionários da Internet: o EuroDicAutom, o Priberam e o Merriam-Webster OnLine. Agora já não há desculpa para andar a escrever costoleta, fize-mos ou pariquito.
2005-05-06
Branca de Neve
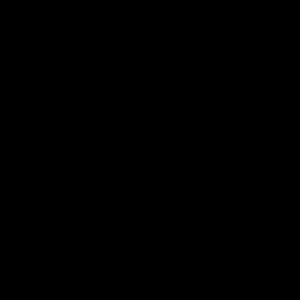
Quando perguntaram a João César Monteiro porque é que o filme Branca de Neve (2000) ficou todo preto, ele contou uma pequena história. Era uma vez um filme normal que incluía actores, guarda-roupa e o décor festivo do Jardim Botânico de Lisboa. Estava-se já em plena fase de rodagem e o realizador Monteiro, numa manhã de algum sossego, resolveu parar numa pastelaria do Príncipe Real. Para alimentar o espírito, levou consigo dois livros. O primeiro chamava-se Execración contra los judeos, um relato das tropelias argentárias dos judeus portugueses na corte de Filipe IV. Trata-se, obviamente, de um texto de cariz anti-semita, cuja leitura o realizador recomenda vivamente. O segundo livro intitulava-se Graças e Desgraças do Olho do Cu e foi, para o cineasta, uma verdadeira fonte de inspiração: «então achei interessante fazer-se um filme que tomasse o ponto de vista do olho cego, do olho que não vê, do olho discreto, oculto geralmente entre duas belas rotundidades» (sic).
Até os monteiristas mais ferrenhos ficaram indignados. Um deles foi o nosso Hugo, criador do blogue Ford Mustang, que escreveu na altura o seguinte: «o Branca de Neve não é um produto artístico, é um produto meta-artístico, ou seja, é um filme cujo assunto é não a vida das pessoas, mas o próprio cinema; é um filme cujo objectivo não é contar uma história nem caracterizar uma personagem, mas dar nas vistas e ser notícia; ora nada é mais elitista e intelectualóide (no pior sentido) do que um produto artístico cujo público alvo é a comunidade artística-intelectual-pensadora-que-vive-de-subsídios […] O JCM pode fazer filmes que se discutam entre amigos em tascas e cafés e não para estudantes de cinema o discutirem em vernissages, em apresentações de ‘instalações’ e ‘performances’ entre duas linhas de coca e uma pastilha. É isso – amigos a falarem de JCM em tascas e cafés entre imperiais e tremoços – que faz mais sentido, e, aliás, é isso que ele sabe fazer melhor. Ele que faça o que sabe fazer melhor». As críticas são tremendamente injustas, porque há na realidade muito para ver, ainda que não seja com os olhos, no controverso ecrã negro.
Para os estudiosos, o filme de César Monteiro é um verdadeiro achado, porque enovela de uma forma completamente nova o cinema com a pintura, a música e a literatura e reacende a questão velhinha da influência recíproca das artes. Estas inter-relações não suscitam controvérsia quando o cinema se limita a representar um tema extraído de um texto poético, pictórico ou teatral. Mas já se tornam mais complexas, problemáticas e controversas quando se ultrapassa o plano estritamente semântico e se procura alcançar um nível de semelhanças, analogias ou isomorfias de ordem estrutural e técnico-formal. Claro que esta impureza do filme de Monteiro não é só por si nada de novo, pois tal como a educação de uma criança é feita pela imitação dos adultos que a rodeiam, também a evolução do cinema foi e continua a ser influenciada pelas artes mais antigas; a inovação está na eloquência da fórmula encontrada, o ecrã preto.
A analogia mais evidente com o fundo preto de César Monteiro é o célebre Quadrado Negro, de Kasimir Malevich, que nos remete para o universo da pintura. O controverso quadro consiste simplesmente nisso: um quadrado preto sobre um fundo branco no qual forma e cor se reduzem ao quase nada pictórico. Para o pintor russo, é um ponto final, um começar de novo sobre o qual se abre a possibilidade de voltar a escrever a história da pintura. O quadro de 1915 originou várias sequelas: o Círculo Negro surgiu por rotação do quadrado sobre a superfície; a Cruz Negra resultou do deslocamento do quadrado sobre os eixos horizontal e vertical; e o acrescentamento da cor vermelha originou o Quadrado Vermelho. César Monteiro negou terminantemente qualquer inspiração em Malevich, mas o ensimesmamento e desejo de renovação comuns aos dois autores parecem aproximar irremediavelmente as obras de ambos.
A adaptação de um poema dramático reacende a polémica da relação entre cinema e teatro, que é ainda hoje vista como qualquer coisa de herético. A expressão «teatro filmado» ganhou um sentido quase ofensivo e muitas vezes são os próprios cineastas que procuram envergonhadamente erradicar as marcas de origem das peças que adaptam ao ecrã, porque só o cinema puro seria verdadeiro cinema. Porém, a opção pelo teatro filmado não significa qualquer capitulação do realizador: bem pelo contrário, o emprego eficaz do despojamento extremo da fotografia, do ascetismo da découpage, da fixidez do plano ou da profundidade de campo procede sempre de uma mestria excepcional e de uma criatividade que é precisamente o oposto da mera filmagem passiva de uma peça teatral.
Aliás, há inúmeros casos memoráveis de teatro filmado. Em Henrique V, de Laurence Olivier, a teatralidade é assumida sem complexos: nunca chegamos ao interior do drama e ficamo-nos, isso sim, pelo registo cinematográfico de uma representação, com público e camarins, de uma peça de Shakespeare. Em Benilde ou a Virgem Mãe, de Manoel de Oliveira, o realizador não só se limita aos três décors previstos pelo autor da peça, como coloca no ecrã as indicações de «1º acto» ou «Fim do 1º acto». Quanto a Branca de Neve, é verdade que César Monteiro renunciou a toda a espécie de mise-en-scène tradicional, mas do drama original restou pelo menos o texto. Concebido em função das virtualidades teatrais, o texto já as contém em toda a sua plenitude. Ele determina o modo e um estilo de representação e é já, em potência, teatro.
A literatura, cuja cumplicidade com o cinema é antiga e intensa, surge com um fulgor enorme em toda a filmografia de César Monteiro. Não que o realizador tenha recorrido com frequência a obras literárias; aliás, Branca de Neve foi a única adaptação literária em toda a sua carreira. Esse seu entusiasmo pelas Letras manifesta-se sim nas citações abundantes de grandes escritores, na adopção de temas literários e sobretudo no seu prazer evidente da palavra. O argumentista, crítico e ensaísta João César Monteiro escreve com elegância e eloquência e sabe, como poucos, extrair da linguagem todo o seu suco poético.
As marcas literárias de Branca de Neve surgem logo com a insólita Errata no início do filme, o que nos remete para os livros. Eis o que escreveu então o realizador: «Na fala do Príncipe, onde se ouve humanidade, deveria ouvir-se humidade. Embora se trate de uma muito humana humidade, o realizador aproveita o erro para pedir as suas mais sentidas desculpas ao espectador, aqui e agora transformado em espectáculo. João César Monteiro».
O que se segue é um texto extraordinário do suíço Robert Walser, cuja actividade literária foi de 1904 a 1925. As suas obras, escritas com uma simplicidade clarividente e uma limpidez de estilo, influenciaram profundamente autores como Franz Kafka. César Monteiro terá seguramente apreciado a sua irreverência, o seu desprezo pelos convencionalismos e a ironia com que mascarava a solidão absoluta em que viveu. O realizador português ter-se-á também identificado com a sua biografia atribulada: Walser foi internado em 1929 num hospital psiquiátrico, sem que nunca se tenha percebido muito bem porquê.
João César Monteiro levou esta sua admiração ao limite e respeitou escrupulosamente o texto original. Aliás, o realizador foi duplamente fiel ao poema walseriano. Não só porque limitou as alterações a um mínimo indispensável, mas também porque o seu ecrã negro, solução estética encontrada após um longo e penoso processo de reflexão, concedeu a primazia absoluta ao texto adaptado. Libertas do fogo-fátuo das imagens cinematográficas, as palavras de Walser podem agora ostentar-se em todo o seu brilhantismo e eloquência. Quem sabe, talvez Monteiro tenha sido inspirado por aquilo que Branca de Neve disse ao Príncipe quando se encontraram no jardim: «Não, diz, o que vês? Diz logo. Através dos teus lábios deduzirei o bonito desenho desse quadro. Se o pintasses, por certo atenuarias habilmente a intensidade da visão. Então, o que é? Em vez de olhar, prefiro escutar».
2005-05-04
Ivo Ferreira
Quando o realizador Ivo Ferreira chegou ao Dubai, queria fazer apenas aquilo que sabe fazer melhor: bons filmes. Mas a vida tem destas coisas e o jovem cineasta acabou preso pelas autoridades locais. O seu crime: ter dado duas passas num charro. A detenção já se prolonga há um mês e deve ser repudiada por todos nós, porque é manifestamente injusta. Talvez não possamos fazer grande coisa, mas um mail de protesto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e à sede da polícia do Dubai sempre é melhor que nada. O Ivo arrisca-se a uma pena de 5 anos de prisão.
2005-05-03
Bons blogues
Dois blogues que são bem feitos, bem escritos, bem pensados, bem tudo: o Lapís Exílis e o Mulholland Drive.
2005-05-02
Mulholland Drive

«10 pistas de David Lynch para desvendar o mistério:
1. Atenção ao início do filme, pelo menos duas pistas são reveladas antes do genérico.
2. Atenção às sombras da lâmpada vermelha.
3. Consegue ouvir o título do filme para o qual Adam Kesher está a fazer audições às actrizes? Volta a ser mencionado?
4. Um acidente é um acontecimento terrível... Preste atenção ao local do acidente.
5. Quem entrega uma chave e porquê?
6. Repare no vestido, no cinzeiro e na chávena de café.
7. O que se sente, acontece e se reúne no clube 'Silencio'?
8. Apenas o talento ajudou Camilla?
9. Repare no que acontece em torno do homem que está nas traseiras do 'Winkies'.
10. Onde está a Tia Ruth?»
2005-04-27
Agora a cores
O realizador Wim Wenders afirmou em tempos que «o mundo é a cores mas o preto e branco é mais realista». O problema é que ele não tinha um blogue. Até aqui, e por discutibilíssima opção estética minha, A Bomba só incluía imagens sem cor. Porém, e graças a uma sugestão preciosa da nossa querida Ofeliazinha, resolvi renovar a pintura e substituir quase todas as anteriores imagens descoloridas por outras que reluzem em toda a sua glória cromática. Espero que, desta forma, o blogue fique melhor (ou menos mau…).
2005-04-26
Corto Maltese
O que faz de Corto Maltese um dos protagonistas mais interessantes do mundo da banda desenhada é o seu carisma. Corto é, antes de mais e indiscutivelmente, um herói: alguém que arrisca a vida pelo dever ou em benefício de outros e que consegue escapar incólume e de um modo exemplar às situações mais insólitas. Mas enquanto que uns dependem de engenhocas sofisticadas e outros de poderes telepáticos, o marinheiro de La Valetta precisa apenas de carisma: a capacidade quase mágica de reunir irresistivelmente os outros em seu redor, ser ouvido por eles e metê-los num chinelo e (aqui é que está a magia) fazer tudo isso naturalmente. Impor-se sem se impor, é essa a poção mágica de Corto Maltese. Não é o seu físico, embora o corpo desempenhe aqui um papel fundamental, não no sentido da força muscular, mas num sentido místico. Nem é o seu proverbial descomprometimento, que lhe permite transaccionar com todas as gentes de todas as inclinações ideológicas e proveniências geográficas e que faz dele, no léxico das Nações Unidas, um verdadeiro observador. É, na realidade, tudo uma questão de carisma.
Esse carisma de Corto Maltese tem-lhe permitido arranjar amigos (fez muitos e de muitas nacionalidades), mas também suplantar inimigos como o temível Roman von Ungern-Sternberg. O Barão Louco, espécie de negativo do próprio Corto, é uma personalidade igualmente ambígua: ele tanto é capaz de recitar Coleridge, como de mandar fuzilar dois dos seus tenentes apenas porque se ausentaram por algumas horas para ir às putas. O sonho do barão: marchar nas pisadas de Gengis Khan, para conquistar a China, depois a Sibéria e avançar até Moscovo. Corto cruzou-se com ele quando perseguia um comboio carregado de ouro e não guarda seguramente boas recordações desse dia. Os dois trocaram apenas alguns monossílabos azedos, mas foi o suficiente para que o marinheiro conseguisse conquistar o respeito e alguma confiança do Barão. Ungern é um sanguinário, mas também um místico suficientemente lúcido para compreender que tem os dias contados. Por isso e porque sabe que Corto é tão aventureiro quanto ele, oferece-lhe o seu império. Mas o marinheiro recusa. O barão, a quem repugnam os bajuladores covardes, admira-lhe a audácia e deixa-o partir em paz mais os seus companheiros.
Também é o carisma de Corto que explica o seu prestígio junto do belo sexo, porque as mulheres sempre apreciaram os temperamentos fortes. Uma delas é a jovem Pandora Groovesnore, por quem o nosso herói se apaixonou em pleno Pacífico: «estás muito bonita! Fazes-me lembrar um tango de Arola que eu ouvia no cabaré Parda Flora, em Buenos Aires». Quanto a Tracy Eberhard, é uma mulher literalmente caída do céu: Corto encontrou-a numa ilha das Caraíbas e salvou-lhe a vida ao retirá-la dos destroços do avião despenhado. Foi também um desastre de aviação que uniu Corto a Marina Seminova, embora o marinheiro se tenha mostrado invulgarmente irritado nessa ocasião. Não era para menos: afinal, a duquesa havia mandado abater, quase desportivamente, o avião onde ele e o americano Jack Tippit viajavam. Mas talvez nenhuma mulher o tenha marcado tanto e tão profundamente como Louise Brookszowyc: é ela que salva a vida de Corto em Veneza e que, dois anos depois, motivará a sua partida atribulada para Buenos Aires. Estas e todas as outras companheiras de Corto Maltese são admiráveis, sedutoras e, tal como ele, carismáticas. Evidentemente, Pratt é um admirador declarado da metade mais sensível da humanidade: «um mundo sem mulheres seria uma coisa terrível!»
Esse carisma de Corto Maltese tem-lhe permitido arranjar amigos (fez muitos e de muitas nacionalidades), mas também suplantar inimigos como o temível Roman von Ungern-Sternberg. O Barão Louco, espécie de negativo do próprio Corto, é uma personalidade igualmente ambígua: ele tanto é capaz de recitar Coleridge, como de mandar fuzilar dois dos seus tenentes apenas porque se ausentaram por algumas horas para ir às putas. O sonho do barão: marchar nas pisadas de Gengis Khan, para conquistar a China, depois a Sibéria e avançar até Moscovo. Corto cruzou-se com ele quando perseguia um comboio carregado de ouro e não guarda seguramente boas recordações desse dia. Os dois trocaram apenas alguns monossílabos azedos, mas foi o suficiente para que o marinheiro conseguisse conquistar o respeito e alguma confiança do Barão. Ungern é um sanguinário, mas também um místico suficientemente lúcido para compreender que tem os dias contados. Por isso e porque sabe que Corto é tão aventureiro quanto ele, oferece-lhe o seu império. Mas o marinheiro recusa. O barão, a quem repugnam os bajuladores covardes, admira-lhe a audácia e deixa-o partir em paz mais os seus companheiros.
Também é o carisma de Corto que explica o seu prestígio junto do belo sexo, porque as mulheres sempre apreciaram os temperamentos fortes. Uma delas é a jovem Pandora Groovesnore, por quem o nosso herói se apaixonou em pleno Pacífico: «estás muito bonita! Fazes-me lembrar um tango de Arola que eu ouvia no cabaré Parda Flora, em Buenos Aires». Quanto a Tracy Eberhard, é uma mulher literalmente caída do céu: Corto encontrou-a numa ilha das Caraíbas e salvou-lhe a vida ao retirá-la dos destroços do avião despenhado. Foi também um desastre de aviação que uniu Corto a Marina Seminova, embora o marinheiro se tenha mostrado invulgarmente irritado nessa ocasião. Não era para menos: afinal, a duquesa havia mandado abater, quase desportivamente, o avião onde ele e o americano Jack Tippit viajavam. Mas talvez nenhuma mulher o tenha marcado tanto e tão profundamente como Louise Brookszowyc: é ela que salva a vida de Corto em Veneza e que, dois anos depois, motivará a sua partida atribulada para Buenos Aires. Estas e todas as outras companheiras de Corto Maltese são admiráveis, sedutoras e, tal como ele, carismáticas. Evidentemente, Pratt é um admirador declarado da metade mais sensível da humanidade: «um mundo sem mulheres seria uma coisa terrível!»
Subscrever:
Mensagens (Atom)









