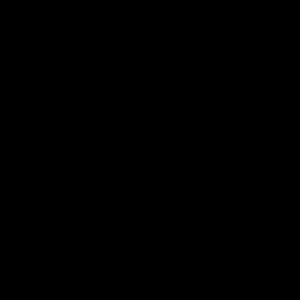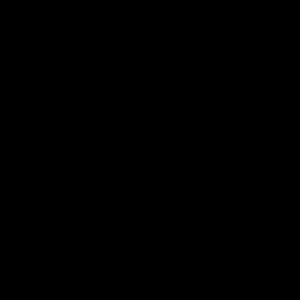
Quando perguntaram a João César Monteiro porque é que o filme
Branca de Neve (2000) ficou todo preto, ele contou uma pequena história. Era uma vez um filme normal que incluía actores, guarda-roupa e o décor festivo do Jardim Botânico de Lisboa. Estava-se já em plena fase de rodagem e o realizador Monteiro, numa manhã de algum sossego, resolveu parar numa pastelaria do Príncipe Real. Para alimentar o espírito, levou consigo dois livros. O primeiro chamava-se
Execración contra los judeos, um relato das tropelias argentárias dos judeus portugueses na corte de Filipe IV. Trata-se, obviamente, de um texto de cariz anti-semita, cuja leitura o realizador recomenda vivamente. O segundo livro intitulava-se
Graças e Desgraças do Olho do Cu e foi, para o cineasta, uma verdadeira fonte de inspiração:
«então achei interessante fazer-se um filme que tomasse o ponto de vista do olho cego, do olho que não vê, do olho discreto, oculto geralmente entre duas belas rotundidades» (sic).
Até os monteiristas mais ferrenhos ficaram indignados. Um deles foi o nosso Hugo, criador do blogue
Ford Mustang, que escreveu na altura o seguinte:
«o Branca de Neve não é um produto artístico, é um produto meta-artístico, ou seja, é um filme cujo assunto é não a vida das pessoas, mas o próprio cinema; é um filme cujo objectivo não é contar uma história nem caracterizar uma personagem, mas dar nas vistas e ser notícia; ora nada é mais elitista e intelectualóide (no pior sentido) do que um produto artístico cujo público alvo é a comunidade artística-intelectual-pensadora-que-vive-de-subsídios […] O JCM pode fazer filmes que se discutam entre amigos em tascas e cafés e não para estudantes de cinema o discutirem em vernissages, em apresentações de ‘instalações’ e ‘performances’ entre duas linhas de coca e uma pastilha. É isso – amigos a falarem de JCM em tascas e cafés entre imperiais e tremoços – que faz mais sentido, e, aliás, é isso que ele sabe fazer melhor. Ele que faça o que sabe fazer melhor». As críticas são tremendamente injustas, porque há na realidade muito para ver, ainda que não seja com os olhos, no controverso ecrã negro.
Para os estudiosos, o filme de César Monteiro é um verdadeiro achado, porque enovela de uma forma completamente nova o cinema com a pintura, a música e a literatura e reacende a questão velhinha da influência recíproca das artes. Estas inter-relações não suscitam controvérsia quando o cinema se limita a representar um tema extraído de um texto poético, pictórico ou teatral. Mas já se tornam mais complexas, problemáticas e controversas quando se ultrapassa o plano estritamente semântico e se procura alcançar um nível de semelhanças, analogias ou isomorfias de ordem estrutural e técnico-formal. Claro que esta impureza do filme de Monteiro não é só por si nada de novo, pois tal como a educação de uma criança é feita pela imitação dos adultos que a rodeiam, também a evolução do cinema foi e continua a ser influenciada pelas artes mais antigas; a inovação está na eloquência da fórmula encontrada, o ecrã preto.
A analogia mais evidente com o fundo preto de César Monteiro é o célebre
Quadrado Negro, de Kasimir Malevich, que nos remete para o universo da pintura. O controverso quadro consiste simplesmente nisso: um quadrado preto sobre um fundo branco no qual forma e cor se reduzem ao quase nada pictórico. Para o pintor russo, é um ponto final, um começar de novo sobre o qual se abre a possibilidade de voltar a escrever a história da pintura. O quadro de 1915 originou várias sequelas: o
Círculo Negro surgiu por rotação do quadrado sobre a superfície; a
Cruz Negra resultou do deslocamento do quadrado sobre os eixos horizontal e vertical; e o acrescentamento da cor vermelha originou o
Quadrado Vermelho. César Monteiro negou terminantemente qualquer inspiração em Malevich, mas o ensimesmamento e desejo de renovação comuns aos dois autores parecem aproximar irremediavelmente as obras de ambos.
A adaptação de um poema dramático reacende a polémica da relação entre cinema e teatro, que é ainda hoje vista como qualquer coisa de herético. A expressão
«teatro filmado» ganhou um sentido quase ofensivo e muitas vezes são os próprios cineastas que procuram envergonhadamente erradicar as marcas de origem das peças que adaptam ao ecrã, porque só o cinema puro seria verdadeiro cinema. Porém, a opção pelo teatro filmado não significa qualquer capitulação do realizador: bem pelo contrário, o emprego eficaz do despojamento extremo da fotografia, do ascetismo da découpage, da fixidez do plano ou da profundidade de campo procede sempre de uma mestria excepcional e de uma criatividade que é precisamente o oposto da mera filmagem passiva de uma peça teatral.
Aliás, há inúmeros casos memoráveis de teatro filmado. Em
Henrique V, de Laurence Olivier, a teatralidade é assumida sem complexos: nunca chegamos ao interior do drama e ficamo-nos, isso sim, pelo registo cinematográfico de uma representação, com público e camarins, de uma peça de Shakespeare. Em
Benilde ou a Virgem Mãe, de Manoel de Oliveira, o realizador não só se limita aos três décors previstos pelo autor da peça, como coloca no ecrã as indicações de
«1º acto» ou
«Fim do 1º acto». Quanto a
Branca de Neve, é verdade que César Monteiro renunciou a toda a espécie de mise-en-scène tradicional, mas do drama original restou pelo menos o texto. Concebido em função das virtualidades teatrais, o texto já as contém em toda a sua plenitude. Ele determina o modo e um estilo de representação e é já, em potência, teatro.
A literatura, cuja cumplicidade com o cinema é antiga e intensa, surge com um fulgor enorme em toda a filmografia de César Monteiro. Não que o realizador tenha recorrido com frequência a obras literárias; aliás,
Branca de Neve foi a única adaptação literária em toda a sua carreira. Esse seu entusiasmo pelas Letras manifesta-se sim nas citações abundantes de grandes escritores, na adopção de temas literários e sobretudo no seu prazer evidente da palavra. O argumentista, crítico e ensaísta João César Monteiro escreve com elegância e eloquência e sabe, como poucos, extrair da linguagem todo o seu suco poético.
As marcas literárias de
Branca de Neve surgem logo com a insólita Errata no início do filme, o que nos remete para os livros. Eis o que escreveu então o realizador:
«Na fala do Príncipe, onde se ouve humanidade, deveria ouvir-se humidade. Embora se trate de uma muito humana humidade, o realizador aproveita o erro para pedir as suas mais sentidas desculpas ao espectador, aqui e agora transformado em espectáculo. João César Monteiro».
O que se segue é um texto extraordinário do suíço Robert Walser, cuja actividade literária foi de 1904 a 1925. As suas obras, escritas com uma simplicidade clarividente e uma limpidez de estilo, influenciaram profundamente autores como Franz Kafka. César Monteiro terá seguramente apreciado a sua irreverência, o seu desprezo pelos convencionalismos e a ironia com que mascarava a solidão absoluta em que viveu. O realizador português ter-se-á também identificado com a sua biografia atribulada: Walser foi internado em 1929 num hospital psiquiátrico, sem que nunca se tenha percebido muito bem porquê.
João César Monteiro levou esta sua admiração ao limite e respeitou escrupulosamente o texto original. Aliás, o realizador foi duplamente fiel ao poema walseriano. Não só porque limitou as alterações a um mínimo indispensável, mas também porque o seu ecrã negro, solução estética encontrada após um longo e penoso processo de reflexão, concedeu a primazia absoluta ao texto adaptado. Libertas do fogo-fátuo das imagens cinematográficas, as palavras de Walser podem agora ostentar-se em todo o seu brilhantismo e eloquência. Quem sabe, talvez Monteiro tenha sido inspirado por aquilo que Branca de Neve disse ao Príncipe quando se encontraram no jardim:
«Não, diz, o que vês? Diz logo. Através dos teus lábios deduzirei o bonito desenho desse quadro. Se o pintasses, por certo atenuarias habilmente a intensidade da visão. Então, o que é? Em vez de olhar, prefiro escutar».